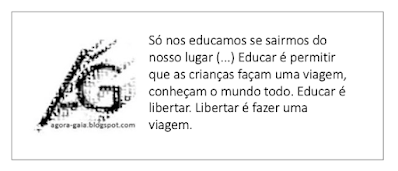In "Ce que l'école peut encore pour la démocracie - Deux ou trois choses que je sais (peut-être) de l'éducation e de la pédagogie", Autrement, Paris, 2020.
Versão portuguesa de Daniel Lousada
[também disponível em pdf >>>]
Não estou certo de que a criança que eu fui
tenha saboreado espontaneamente o desejo de aprender. Sem ofensa àqueles
entusiastas que se espantam com a infância curiosa e ávida de conhecimento,
acho que o desejo de aprender é uma construção lenta e complexa, em grande
parte dependente do empreendimento educativo.
Naturalmente que toda a criança deseja ter
tudo e tudo saber, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Deste ponto de vista,
o nascimento representa um trauma do qual ela levará algum tempo – às vezes até
toda a vida – a recuperar. Primeiro ela precisa de aceitar que não terá, ou
dificilmente terá, satisfação imediata: ela tem fome e frio, pede o olhar da
sua mãe e o colo do seu pai, mas apesar do carinho que estes sentem por ela, às
vezes estão ocupados com outros afazeres. Ela é obrigada a esperar e, ao esperar,
descobre que não é o centro do mundo. E que a frustração faz parte da sua vida.
Mas é uma frustração que se transforma numa satisfação mais intensa quando
recebe a atenção que deseja. É, portanto, uma frustração que precisa de
aprender a viver como uma promessa. Porque é na descoberta do prazer da espera
que se encontra a fonte do desejo. Um desejo que não acaba na sua realização,
porque guarda a memória da espera e mantém aberta a possibilidade do
imprevisto. Um desejo que rompe com a exigência caprichosa da posse imediata e
torna possível a transição criadora do “ter” ao “ser”, quando se renuncia à
voracidade do tudo de imediato para se tornar disponível ao que nem sempre é possível
ser dado, ao que poderá acontecer sem estar já previsto. Quando desistimos de
nos identificarmos com o que temos para alcançar o que está para além de nós.
Os adultos têm, neste domínio, o dever
imperioso do acompanhamento. Cabe-lhes ser o rosto da promessa que permite à
criança transformar as suas frustrações em esperança: «Não podes ter tudo porque
desejas. Mas é o desejo que te faz crescer se, pelo desejo, conseguires escapar
da subjugação aos teus impulsos. É o desejo que te levará, um dia, a procurar
um significado para a tua existência num lugar que não o da tua família». Metabolismo
libertador se é que existe: permite emancipar-se dos seus próprios caprichos e
resistir aos apelos publicitários da sociedade de consumo. Permite-nos
desfrutar daquilo que nos faz humanos por excelência: o adiamento da acção e a
suspensão da voracidade consumista, a disponibilidade para a alteridade, a
abertura ao pensamento.
E, tal como têm o dever de ajudar as crianças
a libertarem-se da tirania do ter, os adultos têm também o dever de as ajudar a
emanciparem-se da “ditadura do saber”. Porque se a criança não quer aprender
espontaneamente, ela quer certamente saber. Desvendar o mistério das suas
origens, com certeza. Mas também, bem depressa, os mistérios do universo. Não é
de surpreender, portanto, que ela, desde muito cedo, repita incansavelmente
“porquê?” sem realmente se aventurar muito no “como?”. É que o “porquê” exprime
a sua necessidade de encerramento, atesta a sua vontade de ter uma explicação
que a preencha e, portanto, extinga a sua procura. Funciona no mesmo registo
do capricho: “Tudo já”. Dispensa tanto a aprendizagem como o capricho procura dispensar
a espera, que o acto de aprender exige. Quer uma explicação definitiva, pois o
capricho exige a posse imediata.
Crescer é, portanto, assumir a própria
incompletude e partir rumo ao desconhecido. Crescer é renunciar ao saber
desligado do trabalho de aprender. É recusar dar-se por satisfeito com
explicações superficiais totalizantes. Significa, de uma vez por todas, romper
com os sistemas que apoiam os porquês que descartam o como.
Ora, crescer é talvez mais difícil hoje do
que em qualquer tempo passado. Em primeiro lugar, porque a incerteza dos nossos
destinos individuais e colectivos torna-nos cada vez mais vulneráveis aos
vigaristas das certezas absolutas. Em segundo lugar, porque à simplificação dos
dogmas juntaram-se todo o tipo de teorias da conspiração: Ambos, frequentemente
construídos sobre a mesma lógica de “bode expiatório”, afirmam abraçar a
"verdade" sem qualquer reflexão ou investigação, entregando-se ao
pensamento caprichoso das certezas inquestionáveis. Preenchem a nosso
pensamento e, ao preenche-lo, fazem-nos seus escravos ao esconder de nós qualquer
falha que os possa questionar.
Escusado será dizer que todo este pensamento
mágico é amplamente ajudado pelo fantástico desenvolvimento das “próteses
tecnológicas” de hoje: instrumentos automatizados conectados em rede, aplicativos
digitais e “motores de busca” – terrível oximoro! – de todo o tipo: «Sobretudo,
não faças perguntas sobre o seu funcionamento! É magia! Temos todas as
respostas, só precisas de fazer as tuas perguntas». Porquê aprender, de facto,
quando basta um treino de curta duração no "manuseamento intuitivo"
destes dóceis servidores, que colocam a omnipotência na ponta dos nossos dedos,
para aceder, ao ritmo frenético dos algoritmos e das redes sociais, a todos os saberes
[mas não ao conhecimento] do mundo?
É assim que as nossas crianças – ou pelo
menos aquelas que não tiveram a sorte de ter uma comitiva de adultos a
inculcarem-lhes o desejo de aprender – lutam por entender a teimosia dos seus
professores: elas são convidadas a sacrificar actividades, das quais obtêm
satisfação imediata, em favor de exercícios intelectuais que parecem ter sido
inventados por professores sádicos, com o único propósito de verificar a sua
capacidade de realizar tais exercícios. Prometem-lhes para mais tarde uma vaga
satisfação, se conseguirem integrar-se no mercado de trabalho. Mas essa é uma
satisfação que permanece bastante distante e, se quisermos ser honestos, cada
vez mais aleatória. Então, por que não cingir-se a algumas competências
transmitidas empiricamente por corporações sociais e a algumas representações
resumidas, que lhes fornecem as chaves para ler um mundo agora reduzido a um
cenário de jogo de computador? Porquê dar-se ao trabalho de aprender, fazendo
operações que as máquinas, cada vez mais “androidizadas”, farão sempre mais
rápido e melhor do que nós? Porquê "abrir o capô" e tentar
compreender como funciona o motor quando tudo o que precisa é da chave de
ignição? Porquê preocupar-se com conhecimentos geográficos, históricos,
económicos ou filosóficos, quando tem um terminal digital miniaturizado no seu
bolso que pode responder a tudo? Porquê ler e documentar, questionar e
confrontar as suas posições com as dos outros, quando é muito mais confortável
acampar num qualquer dogma, com o qual se identifica e que, partindo deste,
pode decidir sobre tudo sem nunca ter examinado nada?
Existe um metabolismo decisivo que o adulto
deve acompanhar a fim de ajudar as crianças a escapar do comportamento infantil,
que lhes é próprio, do saber sem compreender: é necessário, de facto, que estas
consigam encontrar mais prazer no pensamento assente na tentativa e erro do que
na opinião certa não construída por elas. Precisam de descobrir que existe mais
satisfação na busca da precisão, da justiça e da verdade, do que na afirmação
presunçosa de uma doutrina. Precisam de encontrar o prazer de enfrentar o
obstáculo que as obriga a examinar, investigar e reflectir, em vez de se
esquivarem a ele com trejeitos desdenhosos ou procurar destruí-lo em ataques de
raiva. Trata-se de um metabolismo lento e complexo que requer situações
estimulantes e o acompanhamento de adultos exigentes, um metabolismo que,
gradualmente, transforma a "criança que apenas deseja saber" num
"sujeito que procura aprender". Um metabolismo que permite protegê-las
da maldição das certezas absolutas, que raramente são suas.