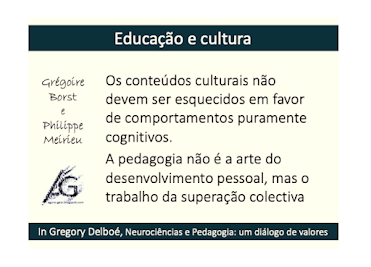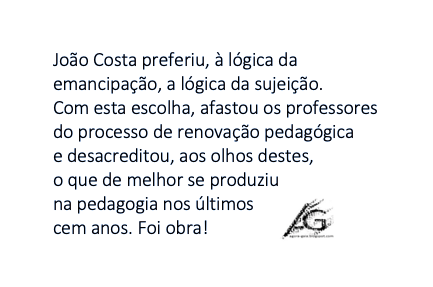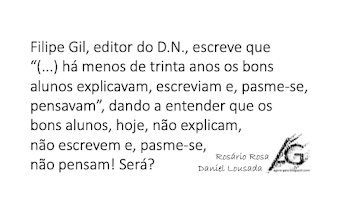sexta-feira, 30 de agosto de 2024
O crepúsculo da crítica
Neurociência cognitiva na sala de aula
Em contrapartida, o mundo da educação, informado como está pela prática quotidiana – o estado actual da pedagogia – pode sugerir ideias originais para experimentação. Desta forma, está a desenvolver-se um fluxo bidireccional do laboratório para a escola. Estas descobertas estão também a começar a ser ensinadas aos estudantes nos Institutos Nacionais Superiores do Ensino e da Educação (Inspé) em França. Uma dinâmica semelhante está a ser estabelecida, da escola à universidade, na Bélgica, na Suíça e no Canadá (Masson e Borst, 2017), os países francófonos abrangidos por este livro.
Esta atenção ao aluno e ao seu cérebro, em termos de expectativas, de limitações e de potencial de aprendizagem, inscreve-se no espírito dos pioneiros das novas pedagogias do século XX, como Maria Montessori em Itália, Célestin Freinet em França e Ovide Decroly na Bélgica (Houdé, 2018).
A loucura da neuroeducação é tal que é preciso acalmar as coisas desde o início. Foi o que fiz recentemente numa coluna da revista Cerveau & Psycho intitulada “L'école des cerveaux. Neuroeducação: magia ou ciência?" Referindo-me ao livro best-seller de Céline Alvarez, Les Lois naturelles de l'enfant (Alvarez, 2016), recordei aos leitores a necessidade de uma avaliação científica séria do impacto educativo “não laboratorial” de tais aplicações práticas das ciências cognitivas e cerebrais nas escolas.
Se quisermos uma abordagem rigorosa, o método experimental estrito deve ser aplicado aqui, na medida do possível, nas ciências da educação ou da neuroeducação, tal como foi aplicado nas ciências médicas, desde Claude Bernard no século XI (actualmente, falamos de medicina baseada na evidência). Em primeiro lugar, deve haver um pré-teste, um pós-teste imediato e um pós-teste diferido, rigorosamente idênticos e, em segundo lugar, todo o protocolo de ensino experimental deve ser comparado com um grupo de controlo, em tudo idêntico. Este é o ABC da educação baseada em provas e em resultados de investigação.
Com este objectivo em mente, o meu laboratório do CNRS, LaPsyDÉ, lançou uma grande experiência participativa desde o início do ano lectivo de 2017 com o grupo Nathan e a sua plataforma digital Lea (L'école aujourd'hui), uma comunidade educativa que já inclui mais de 80.000 professores de escolas de todo o mundo francófono.
Em 2011, o neuropsicólogo Xavier Seron escreveu um texto crítico sobre a neuropedagogia em relação ao seu domínio de especialização: a matemática (Seron, 2011). Nele, demonstra, de forma muito documentada, que a complexidade das interpretações cognitivas e comportamentais da activação cerebral, bem como as contradições entre os investigadores sobre essas mesmas interpretações, continuam a tornar as transposições pedagógicas difíceis, ou mesmo arriscadas.
O psicólogo cognitivo Michel Fayol exprimiu reservas semelhantes, sublinhando que a análise clássica do comportamento e do desempenho dos alunos, em acompanhamento transversal (por grupo etário) e/ou longitudinal (as mesmas crianças ao longo dos tempos), é actualmente mais eficaz do que a abordagem, ainda demasiado hipotética, de olhar para o cérebro. Estas objecções estão resumidas, entre outras, num excelente Inquérito sobre a neuropedagogia da jornalista de ciências humanas Martine Fournier (2016).
No entanto (e é o ponto de vista do professor que estou a tomar aqui), os professores, eles próprios dotados de um espírito crítico, que não tomam a (neuro)ciência pelo seu valor facial, que detectam contradições em relação à sua experiência no terreno (ou às suas leituras cruzadas), mas que estão ansiosos por formação, já têm um desejo legítimo de iluminar as suas práticas, de as melhorar, através de novos conhecimentos e teorias científicas (isto é, validadas, publicadas) sobre o cérebro dos alunos. Isto está intimamente ligado à análise tradicional do comportamento e do desempenho.
Nós, psicólogos e neurocientistas, temos portanto o dever de os esclarecer neste domínio (em conformidade com Ansari et al., 2012, e Sigman et al, 2014), reconhecendo (i) o grau de incerteza destes novos dados, (ii) a necessidade de uma avaliação científica dos métodos de ensino que deles se podem deduzir e, sobretudo, (iii) perspectivando-os com os conhecimentos e as teorias clássicas que já adquiriram (por vezes, neste caso, apoiados, qualificados ou, pelo contrário, invalidados), nomeadamente na psicologia do desenvolvimento infantil, da aprendizagem e da educação. Não se trata de reinventar ou revolucionar tudo, mas de completar o edifício histórico das ciências da educação, no sentido mais sólido do termo, ou seja, a neurociência actual.
Como Maurice Merleau-Ponty salientou no Collège de France em meados do século XX, trata-se de “ensinar a ciência em construção” (o lema desta prestigiada instituição). No início do século XXI, adoptemos a mesma abordagem das ciências cognitivas e do cérebro para os professores, desde o jardim de infância até à universidade.
Contrariamente à “neurociência top-down”, ou seja, a neurociência imposta de cima para baixo por neurocientistas que não sabem fazer melhor, cada um dos autores deste livro, tal como eu, acredita numa neurociência educativa baseada na investigação participativa (as aulas Cogni são um exemplo) e na partilha de conhecimentos (aqui as fichas técnicas, os conselhos práticos, os testemunhos, etc.). Isto garante um empenhamento real e duradouro dos professores através da investigação-acção e de um intercâmbio frutuoso entre o laboratório e a escola.
quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Neurociências e Pedagogia: Um diálogo de valores
A pedagogia e as neurociências podem realmente trabalhar em conjunto? Foi esta a questão debatida a 24 de janeiro pelo pedagogo Philippe Meirieu e pelo psicólogo neurocientista Grégoire Borst, a convite do CÉMÉA DA BÉLGICA, em associação com o OBSERVATOIRE DE LA RÉSILIENCE-BORIS CYRULNIK e o INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (IDEF)
GRÉGOIRE BORST e PHILIPPE MEIRIEU partilham os mesmos valores. Assim que os dois oradores foram apresentados, JEAN-FRANÇOIS HOREMANS, o mestre de cerimónias da noite, sublinhou a sua convergência: "Os nossos dois convidados são humanistas". Desde o início das suas intervenções, ambos falaram da necessidade de atribuir aos professores a responsabilidade de decidir sobre o caminho a seguir. Os professores não são executores!
Para os dois protagonistas, o papel dos investigadores é claro: fornecer um corpus de conhecimentos científicos susceptíveis de esclarecer a complexidade de cada situação singular. Se era de esperar que PHILIPPE MEIRIEU salientasse que esta reflexão se baseia em valores, não esperávamos, necessariamente, que um neurocientista fosse tão insistente neste sentido.
A preocupação com os alunos e as famílias em dificuldade, a tomada de posição sobre a necessidade da heterogeneidade, a luta contra todos os determinismos, o respeito profundo pelos professores e pela profissão complexa que exercem (com particular atenção ao trabalho no jardin-de-infância), o respeito inquestionável pelos alunos e, mais amplamente, pelas crianças e adolescentes como sujeitos, a valorização dos alunos pelo investimento no seu do progresso e a rejeição do paradigma desmoralizador da comparação social, etc. GRÉGOIRE BORST não só enuncia estes valores, como também os relaciona, sistematicamente, com os trabalhos da psicologia cognitiva.
A IMPORTÂNCIA DA METACOGNIÇÃO
GRÉGOIRE BORST deu grande importância à metacognição. Do seu ponto de vista, não é acumulando mais horas de matemática (por exemplo), e cada vez mais precocemente, no percurso escolar de um aluno, que as escolas se tornarão mais "eficientes". Pelo contrário, isso tende a aumentar a ansiedade dos alunos mais desfavorecidos. Pelo contrário, é apoiando os processos metacognitivos, desde os primeiros anos do jardim-de-infância, integrando-os nas estratégias pedagógicas adequadas a cada um.
O investigador partilha connosco o essencial do trabalho do seu laboratório, apresentando os princípios e as funções da inibição: os alunos devem aprender a resistir aos automatismos do pensamento, reconhecendo as armadilhas das situações e das rotinas que temos tendência em activar se não tivermos cuidado.
PHILIPPE MEIRIEU, por seu lado, recordou um certo número de fundamentos da educação: não basta ensinar para que os alunos aprendam; cada situação pedagógica é única e o conhecimento científico só pode contribuir para isso (a inteligência das situações continua a ser uma "arte de fazer"); o princípio da educabilidade é o principal fundamento de qualquer adulto responsável pela educação; a superação das representações espontâneas exige a imposição de um adiamento do imediatismo e a autonomia intelectual educa-se através de estratégias diversificadas.
Em todos estes pontos, PHILIPPE MEIRIEU mostra que não existe qualquer barreira entre a pedagogia e as neurociências, mesmo que as duas abordagens possam levar à utilização de aspectos e conceitos diferentes.
HÁ NEUROCIÊNCIAS E NEUROCIÊNCIAS...
PHILIPPE MEIRIEU destaca também as "diferentes sensibilidades". Assim, detém-se no conceito de desenvolvimento, caro a Jean Piaget. Teme a abstenção pedagógica dos professores que esperam que o desenvolvimento faça o seu trabalho: "A pedagogia não é a arte do desenvolvimento pessoal, mas o trabalho da superação colectiva". Reitera também que não podemos reduzir um sujeito ao que observamos dele.
GRÉGOIRE BORST concorda, afirmando que o behaviorismo é uma armadilha em que podemos cair se não estivermos sempre conscientes dos seus riscos. Seguindo os passos de JEAN PIAGET, os investigadores do laboratório LaPsyDÉ (Laboratório de Psicologia do Desenvolvimento da Criança e da Educação da Universidade de Paris), de que este investigador faz parte, puderam demonstrar os importantes contributos, mas também os limites, da obra do famoso pai da epistemologia genética.
Os investigadores do seu laboratório ajudaram-nos a compreender como a concepção linear do desenvolvimento da inteligência, em etapas que se sucedem numa ordem imutável (segundo o "modelo da escada"), é uma teoria muito discutível. Em apoio a este trabalho, salientam até que ponto os erros de raciocínio podem ser tidos em conta, desde muito cedo, e que as grandes diferenças interindividuais se explicam pela capacidade, maior ou menor, de inibir os nossos automatismos e resistir às nossas rotinas.
PHILIPPE MEIRIEU prossegue nestas reservas com uma observação que pode ser resumida no facto de que "em educação, a solução não está contida no problema como a noz na sua casca, ela é o fruto da inventividade dos professores. [...] Embora, por vezes, existam remediações oportunas, as soluções pedagógicas procuram-se, inventam-se e (re)descobrem-se no património pedagógico, entre outros lugares".
A IMPORTÂNCIA DA CULTURA
Por fim, menciona os objectos culturais, fazendo referência a JEROME BRUNER, para quem a cultura dá forma ao espírito . Os conteúdos culturais não devem ser esquecidos em favor de mecanismos puramente cognitivos. Parece-me – depois de ter escutado GRÉGOIRE BORST – que esta "seta" tinha como alvo outros neurocientistas, menos preocupados com o lugar fundamental da cultura no percurso do aluno.
Na parte final da sua intervenção, PHILIPPE MEIRIEU dirigia-se, sem dúvida, aos mesmos destinatários quando concluiu com uma preocupação: a imposição da "escola eficaz". Este paradigma utiliza os inquéritos internacionais e os seus resultados como instrumento de medida, de que reconhece o interesse algures, mas volta a chamar a atenção para a tendência destes de limitar a aprendizagem ao que pode ser observado.
Para ele, este é um sinal do comportamentalismo em que "alguns colegas estão a tropeçar". Esta visão do ser humano", diz PHILIPPE MEIRIEU, "ignora o projecto de cada um, a mobilização das pessoas através de intenções". A sua preocupação prende-se, portanto, com a deriva tecnicista, impulsionada por uma investigação centrada no que é estritamente quantificável e observável, "ignorando assim a intencionalidade em favor do comportamento".
O autor salienta igualmente as importantes diferenças que estabelece entre motivação e mobilização, sendo a primeira considerada, demasiadas vezes, como um pré-requisito da actividade e a segunda como aquilo que se pretende alcançar através desta.
UMA DISCUSSÃO EM VEZ DE UM DEBATE
GRÉGOIRE BORST esclareceu-nos sobre as funções que atribui aos instrumentos de medida, denunciando os testes institucionais (nomeadamente os nacionais), cujos resultados fornecem poucas informações úteis aos professores, uma vez que já são observáveis no quotidiano da sala de aula. Outras dimensões, como o bem-estar, a metacognição e a inibição (pensar contra si próprio), poderiam permitir prever a resiliência de um certo número de alunos e seriam úteis para os professores.
PHILIPPE MEIRIEU concluiu com uma das suas máximas: "é preciso medir com medida", e sugeriu três precauções a este respeito: não esquecer aquilo a que chama a “Jurisprudência de Binet” : os testes da escala métrica da inteligência só fazem sentido quando são bem sucedidos; é necessário distinguir e articular critérios e indicadores para fundamentar as nossas escolhas; e evitar utilizar a medição como um instrumento sistemático de comparação e de competição.
GRÉGOIRE BORST concordou, dando exemplos de práticas escolares que valorizam a comparação social, por vezes sem o conhecimento dos professores que as criaram. Alargou a questão da avaliação, insistindo sobre a variabilidade das capacidades de cada indivíduo (nomeadamente entre os 4 e os 11 anos), e o período da adolescência, que ainda anuncia mudanças profundas devido ao que chamou "uma reconfiguração completa do cérebro".
Por outras palavras, do ponto de vista cognitivo, nada é completamente certo. Estas posições não podem deixar de encantar o homem que fez do princípio da educabilidade uma das suas maiores batalhas.
Em certos aspectos, GRÉGOIRE BORST traz a sensibilidade de uma nova vaga de neurocientistas, como ALBERT MOUKHEIBER ou SAMAH KARAKI, que aceitam o seu compromisso com os valores. Isto não significa que tenham perdido o seu rigor científico. A visão cautelosa de GRÉGOIRE BORST sobre a capacidade das neurociências para transformar a educação é um lembrete bem-vindo da necessidade de trabalhar ao lado daqueles que se vêem, todos os dias, contra a parede.
Grégory Delboé
segunda-feira, 22 de julho de 2024
Que estratégias pedagógicas para um mundo-projecto? *
Como podemos iniciar uma verdadeira prática de Educação Ambiental, que traga o mundo às nossas vidas, traga os outros à vida no mundo e permita que o mundo seja um lugar de projectos e não apenas um mero objecto? Cinco princípios, simples, parecem-me ser o caminho a seguir: são retirados da grande tradição dos “pedagogos históricos” que tanto têm para nos ensinar, de Pestalozzi a Korczak, de Ferrer a Makarenko, de Freinet a Oury, de Maria Montessori a Germaine Tortel, de Cousinet a Paulo Freire e muitos outros...
- “Fazer tudo sem fazer nada": era o lema de Rousseau. Os pedagogos chamam-lhe “organizar o ambiente”. “Não nos ocupamos das pessoas, ocupamo-nos do ambiente, dos dispositivos, estruturamos o espaço e o tempo”, diz Makarenko. A nossa reflexão, neste domínio, continua a ser insuficiente, e os professores são demasiado idealistas: fixados nos conteúdos, indiferentes às condições em que estes são transmitidos. A este respeito, podemos, legitimamente, ficar chocados com a falta de trabalho sobre a organização do próprio ambiente escolar, incluindo, por vezes, por aqueles que afirmam ensinar educação ambiental. O próprio ambiente escolar é, demasiadas vezes, abandonado. Não falamos da reflexão sobre a arquitectura escolar, que está ainda a dar os primeiros passos. Nem sequer mencionemos o facto de que, por exemplo, as autoridades locais, responsáveis pela construção das escolas, não disporem de um caderno de encargos nacional, que imponha um mínimo de exigências pedagógicas. Sem esquecer o facto de que, em muitos casos, qualquer educação ambiental será imediata e totalmente contrariada pelo próprio ambiente escolar, que viola as regras estabelecidas. As crianças não salvarão o planeta se não as colocarmos num ambiente escolar onde possam compreender a interacção entre o homem e o ambiente, experimentar a ligação entre o privado e o público e ter espaços onde possam aprender não a “desfrutar” da natureza, mas a viver com ela.
- Trabalhar com: este é um segundo princípio pedagógico essencial. Trabalhar com as crianças tal como elas são, e não como gostaríamos que fossem. Claro que preferíamos que elas estivessem já educadas, mas elas não estão educadas – isso é connosco! E temos de “lidar” com crianças concretas, crianças que têm uma história, um passado, condicionamentos e problemas, que estão muitas vezes marcadas pela vida. Temos de “ir em frente”, não nos resignarmos, mas pegar nelas onde estão e acompanhá-las, trabalhar com elas para as levar mais longe. Édouard Claparède definiu como lema da Maison des Petits que fundou em Genebra: “A escola onde as crianças não fazem o que querem, mas querem o que fazem”. Não se trata, portanto, de abandonar as exigências da educação, bem pelo contrário, mas de fazer com que os educadores tomem as crianças onde elas se encontram, para as ajudar a progredir. As crianças estão num “mundo-objecto”... cabe-nos a nós, na sala de aula, criar situações educativas que lhes permita experimentar um “mundo-projeto”.
- Fazer “como se” para fazer de facto: fazer “como se” as crianças fossem capazes quando ainda não o são... Esta é a grande dificuldade que confronta todo o educador. Uma criança não é, por definição, um ser livre e responsável; mas o papel do educador é antecipar razoavelmente o futuro, para o fazer acontecer. Antecipar o suficiente, para que a criança perceba o desafio e o supere. Não antecipar demasiado, para além do que é possível, para evitar o desânimo. Desta forma, ao trabalharmos em conjunto, para lançar desafios, que permitam às crianças superarem-se a si próprias e avançarem, estaremos, gradualmente, a permitir-lhes fazer o que não sabiam e não conseguiam fazer. É uma bela alternativa ao comportamentalismo, desde que mantenhamos a preocupação de permitir o aparecimento de comportamentos responsáveis, de respeito pelos outros e pelo meio ambiente, mas recusando, como método educativo, o adestramento.
- Fazer coisas aqui para aprender a fazer coisas noutro lugar: esta é a questão central da “transferência”. A educação ambiental coloca, claramente, a questão da transferência. De facto, as limitações do modelo behaviorista residem, precisamente, no facto de ignorar a questão da transferência. Porque o que eu aprendo a fazer mecanicamente aqui, se não o compreender, se não o souber projectar noutro contexto, só o poderei fazer aqui, exactamente nas mesmas condições, e logo que o professor vire as costas, logo que o tempo de escola acabe, tudo o que aprendi será totalmente inútil. A educação ambiental deve, portanto, interessar-se particularmente pela transferência, e ter os meios para o fazer, porque trabalha precisamente sobre os contextos; e a transferência é precisamente uma “métrica dos contextos”: variamos os limites, aproximamos e afastamos as fronteiras do mundo, para nos compreendermos, progressivamente, no mundo. A educação ambiental consiste em ensinar os alunos a situarem-se num determinado espaço e num determinado tempo, começando pela própria sala de aula, pelo bairro, pela cidade, por uma zona rural, e depois alargar progressivamente as suas observações, regressando regularmente ao ponto de partida, verificando a coerência do “sistema”, antes de avançar em mais explorações.
- Trabalhar em conjunto: a cooperação escolar é, na minha opinião, um princípio fundamental da educação ambiental. Para mim, não pode haver uma verdadeira educação ambiental sem a aplicação persistente de uma abordagem pedagógica cooperativa, sem aprender a trabalhar em conjunto, em que o sucesso não se faz em detrimento dos outros, mas com eles. Onde aprendemos com eles enquanto eles aprendem connosco. Onde descobrimos o prazer de aprender juntos. Porque o conhecimento não é um bem de consumo. No mundo comercial, quanto mais se tira de algo, menos sobra; quanto mais se dá, menos se tem. No domínio do conhecimento, é o contrário: quanto mais se dá, mais se domina o próprio conhecimento, mais se partilha e mais rico se fica! Uma bela prefiguração do que poderia ser um mundo onde o desenvolvimento se baseia na solidariedade, que beneficia todos! Temos de aprender, com os nossos alunos, que a informação partilhada é uma informação enriquecida, mesmo que isso signifique que já não posso exercer o poder sozinho. E sobre este plano todos nós temos muito a progredir nas nossas instituições mútuas. A informação é, demasiadas vezes, entendida como uma oportunidade para exercer poder. É verdade que quem partilha a informação renuncia a algumas das suas prerrogativas. Mas, de um ponto de vista pedagógico, quem sabe partilhar informação, na realidade, sabe também multiplicar o que diz e o que faz; deste modo, entra na lógica da verdadeira cooperação, a do desenvolvimento solidário.
Conclusão
Em suma, a educação ambiental não é, evidentemente, uma disciplina marginal ou uma matéria suplementar, que se possa acrescentar aos programas escolares, acrescentando uma hora aqui ou outra ali. A educação ambiental, tal como tentei apresentar-vos, é uma educação para a responsabilidade e para a cidadania planetária e, como tal, é o próprio exercício, no domínio educativo, desse “princípio de responsabilidade”, em relação ao futuro, que o filósofo Hans Jonas transformou na pedra de toque da nossa moral colectiva.
______________________________________________
* in "Éduquer à l’environnement : pourquoi? Comment? Du monde-objet au monde-projet”, pp. 16-19. LER >>>
sexta-feira, 19 de julho de 2024
Gostar de ler: privilegiar o papel sem diabolizar o pixel
Michel Desmurget acha que o prazer de ler não se dá bem com o pixel, que precisa do papel para se impor. É um prazer que se desenvolve mal com ebooks, mesmo que suportados por leitores digitais dedicados, como o kindle ou o kobo: entre o leitor e o texto não existe aquela relação com o livro-objecto, que se constrói através de um livro impresso em papel. Uma experiência que uma criança começa a adquirir, quando lhe oferecemos livros (de pano ou cartão), ou revistas que ela manuseia, como um “brinquedo” (e destrói em minutos), muito antes de saber o que é um livro, na convicção de que, quem desenvolve uma relação positiva com o livro-objecto, desenvolverá idêntica relação com o texto.
E, no entanto, gostar de livros, por estranho que pareça, não significa gostar de ler. Há quem goste de livros e não se sinta entusiasmado pela leitura: “Não sou leitora – disse a professora Isa, lembram-se? >>> – Nunca fui muito de ler livros. Mas sempre adorei tê-los.” Já quem não gosta de livros, com toda a certeza não gosta de ler. O que não quer dizer que não leia; lê, claro, por necessidade. E será que, quem gosta ler, gosta de ler em qualquer formato?
Os dados fornecidos pelo autor de "Cretinos digitais", apontam para a superioridade do papel sobre o pixel. E são tão esmagadores que não há como contrariá-los. Mas o meu ponto é outro. Não estou interessado no confronto pixel versus papel: procuro antes os contextos de uma coabitação possível. Até porque "o digital veio para ficar e ficou mesmo".
Pela parte que me toca, confesso, são mais os "livros" que compro, hoje, em suporte digital do que em papel – escrevi há tempos neste sítio >>> –. Leio-os, nos dispositivos dedicados à sua leitura, com o mesmo prazer ou desprazer – que só depende do conteúdo –, excepto no ecrã de um pc. Claro que, dir-me-ão, sentes o mesmo prazer a ler ebooks, porque passaste pelo livro em papel, antes de chegar a eles. Quer dizer, construíste uma relação com os livros, que transportas agora para o digital; ao lê-los, na tua cabeça está, de certa forma, um livro.
De facto, quando pego num leitor de ebooks, não sendo um livro que agarro, ainda assim é um objecto que carrega livros, que seguro nas mãos. Agarro-o com a intenção de ler um dos muitos “livros” que ele guarda. Procuro um livro para ler! E, ao encontrá-lo, é mesmo um livro que leio. O objecto está nas minhas mãos, percorro as suas páginas, como percorro as páginas em papel, numa experiência quase idêntica. Idêntica mas não igual, é certo. Efeito daquela representação que tenho do livro, que mantenho – porque a vivi –quando folheio as páginas digitais de um ebook? Certamente que sim. Daqui o imperativo de proporcionar às nossas crianças as experiências que farão com que ela, ao ler um ebook, sinta que tem nas suas mãos um livro. Como? Privilegiando o papel sem diabolizar o pixel! Porque se é certo, que a relação com o livro-objecto, só com o livro, mesmo, é possível desenvolver, não é menos certo, que posso partilhar com ela a leitura de um ebook. Conheço pais que o fazem com os seus filhos. Só não lhe passam o leitor para as mãos, sem supervisão, da mesma forma que lhe passam um livro.
Distinguir os livros, que lemos com prazer, das fontes de informação, que se consultam por obrigação, é fundamental, neste processo. Nos primeiros, coloco a literatura – em todas as suas dimensões –, os ensaios, as obras de cultura, da história às artes, da filosofia às ciências... Nos segundos, coloco os jornais e revistas, os sítios da web, o manual escolar – livro-repelente, que não é bem livro – aquela coisa a que recorremos, sem a expectativa de que algo nos surpreenda, e que, por isso mesmo, poderia muito bem ser digital.
Quando os estudos apresentados por Michel Desmurget dizem que a maioria dos leitores competentes "acham que o suporte em papel é preferível, nomeadamente, para leituras longas e exigentes, porque favorece a concentração", nada é dito sobre o aparelhos que suportam o texto, presentes no estudo, nem da experiência do leitor no uso de aparelhos dedicados à leitura – Eu li o livro de Michel Desmurget no kindle, e não me desconcentrei mais do que me teria desconcentrado se o tivesse lido em papel *–. Creio, aliás, que serão muito poucos a ter acesso a leitores dedicados à leitura de textos, demasiado caros, tendo em conta que só servem, exclusivamente, a leitura de livros digitais.
Não desvalorizo as preocupações que o digital coloca. Mas recuso enveredar na histeria do "isto ou aquilo", num "ou" que exclui. Em pedagogia o "ou" é inclusivo. É isto ou aquilo, numa alternância que não exclui: isto agora, neste lugar, ou aquilo noutro tempo, no mesmo ou noutro espaço.
Claro que ficam preocupações a debater (que esperamos abordar em breve neste sítio). Mas essas passam ao lado da leitura e do prazer do texto, que nos obrigamos – porque devemos – a promover.
Ter na devida conta os dados que a ciência nos oferece, é fundamental. Mas com o cuidado de não correr a traduzi-los numa prática. Assim sem mais!... Até porque – repito – "o digital veio para ficar e ficou mesmo"
* O livro de Michel Desmurget, "Faite-les lire! Pour em finir avec le crétin digital", foi comprado em ebook, no inicio do ano, antes da edição portuguesa, publicada em Junho, com o título "Ponham-nos a ler! A leitura como antídoto para os cretinos digitais", da Contraponto. Quando o texto é escrito noutra língua que não a portuguesa (francês, inglês ou espanhol), prefiro a edição em ebook, quando existe. A disponibilidade dos tradutores digitais inteligentes, ajudam a resolver, rapidamente, as dúvidas de tradução localizadas, quando afectam a compreensão do todo.
SOBRE O MESMO TEMA:
- Tecnologia digital: extensão ou substituição >>>
- Desafios que o ChatGPT nos coloca >>>
- ChatGPT: uma aplicação que não é possível ignorar >>>
- A Pedagogia e o digital >>>
- Digital e modernização educativa >>>
- O digital veio para ficar e ficou mesmo >>>
quarta-feira, 22 de maio de 2024
ESCOLA: Sobre a ideologia das boas práticas
Ora, é exactamente isso que a ideologia das “boas práticas” promove, sugerindo que, finalmente, temos as receitas milagrosas de uma profissão que os humanos vêm tacteando há séculos. É também isso que os adeptos da Educação Baseada em Evidências procuram alcançar, hoje em dia, em todo o mundo: apoiados em investigações nas áreas da psicologia cognitiva e das neurociências, ao experimentar, em laboratório, diferentes métodos de ensino, registando e comparando dados de avaliações de todo o tipo, afirmam ser capazes de desenvolver protocolos com vocação universal, e querem prescrever, a todos os professores do ensino básico, as ferramentas que estes devem usar para ensinar os seus alunos a ler e contar, mas também para fixar a sua atenção, memorizar ou organizar-se.
Poder-se-ia pensar que, estas tentativas de padronização pedagógica, dizem apenas respeito ao 1º. Ciclo, e aos “conhecimentos fundamentais”, que são percebidos – erradamente – como simples e mecânicos. Mas elas vão para além disso: o que estamos agora a ver, não será o desenvolvimento, em alta velocidade, de uma infinidade de projectos, para disponibilizar a todos, graças à tecnologia digital, entre outras ajudas, plataformas com vídeos para, supostamente, facilitar todo o conhecimento possível, à distância?
[Requer pedido de acesso ao livro - versão portuguesa não comercial]
domingo, 5 de maio de 2024
Falemos de educação e bem comum, de avaliação, exigência e excelência.
Na educação, talvez mais do que em qualquer outro lugar, a soma dos interesses individuais não produz o bem comum.
O modelo de competição (assente na conquista de interesses individuais, a qualquer preço) está de tal forma difundido entre nós, que é difícil imaginar que a excelência e a perfeição possam estar ao alcance de todos.
Reservamos o acesso à excelência àqueles e àquelas que foram sujeitos a uma selecção draconiana e se impuseram acima dos outros, ou até mesmo contra os outros.
Receio que pensemos ser exigentes porque somos selectivos. Abandonamos a exigência para que o processo de selecção funcione.
Temos de ajudar as crianças a competir consigo mesmas para se ultrapassarem, e não com os outros para esmagá-los.
Falta à escola uma visão educativa alargada. A escola é a única instituição por onde passam todas as crianças. Como tal, não creio que seja possível isentá-la da sua função educativa. Porque a própria instrução, por mais pura que seja, é sempre realizada num quadro que transmite valores. Os exercícios escolares não são neutros.
CONTINUAR A LER (requer pedido de acesso) >>>
sábado, 13 de abril de 2024
Se ele não sabe porque é que explicas?
A propósito da uma história de Manuela Castro Neves
Não é possível explicar a quem não quer saber de explicações. E só não quer saber de explicações, quem se sente a léguas do assunto da explicação.
Explicar é fazer com que o outro entenda o que temos a dizer. Mas para que isto aconteça precisamos saber o que ele sabe do que queremos que saiba. E só chegamos a esse saber pela conversa. Uma conversa só possível, tantas vezes, se tivermos a capacidade de ler os sinais que ele nos passa: a perplexidade que vemos no seu olhar e nos interroga, que pode ser o início do diálogo que leva à explicação; ou aquele desafio que nos diz que não está nem aí e nos "convida" a seguir outro caminho, algo idêntico ao relatado em “Matemática, só matemática", uma das trinta e quatro pequeníssimas histórias que a Manuela nos conta no seu livro "Caderno A4", e que reproduzimos abaixo [as restantes só podem ser lidas no livro], num enredo que nos convida a reflectir sobre o caminho das explicações que damos: negociação ou confronto.
A Manuela diz que não dá explicações, mas explica! Explica no diálogo que o outro aceita ter com ela. Só não traz a explicação à cabeça. SEGUIR PARA A LEITURA DA HISTÓRIA >>>
Daniel Lousada
segunda-feira, 1 de abril de 2024
A ESCOLA
De que falamos quando falamos de escola? Estamos realmente certos do que sabemos? Não será este um assunto no qual estamos demasiado envolvidos para pretender ser [cientificamente] objectivos? Isto porque a escola é, ao mesmo tempo, o lugar para onde íamos quando éramos criança e para onde mandamos os nossos filhos. A escola é a imagem amarelecida que recordamos com saudade e a última reportagem da tv sobre violência escolar. É para nós e para os nossos filhos o lugar da alegria de aprender e da angústia de não saber. São os olhos que brilham quando recebem uma boa nota e aquela pressão no estômago no dia do exame. A escola é também uma máquina imensa - a maior empresa portuguesa - e o quotidiano frequentemente muito distante das generosas declarações de intenções dos políticos. A escola é o bem comum da república, o lugar onde se cruzam histórias singulares e imprevisíveis. É objecto tanto das nossas raivas e esperanças colectivas como o depósito das nossas ambições familiares.
Há sempre duas escolas. E se temos tanta dificuldade em falar delas no debate público é porque, quando alguém fala de uma, respondemos sempre a falar da outra: a quem se refere à escola da sua saudade, responde aquele que sublinha a novidade radical da situação actual; ao pai que afirma que a escola não pode ignorá-lo, responde o professor que teme a usurpação das suas prerrogativas; ao defensor da cultura humanista desinteressada, responde o contribuinte que exige uma boa gestão dos fundos públicos e o "controlo dos resultados". Não há escola sem o seu espelho: simultaneamente o mesmo e o seu oposto; de frente e de costas; da direita para a esquerda; da esquerda para a direita... Sem limites no espelho, a escola forja o seu reflexo, o seu duplo.
É preciso, portanto, sair deste efeito de "mise en abyme"[*] - patético ou irrisório, depende - para reinscrever a escola no nosso "mundo comum". Um empreendimento árduo, sem dúvida, tal a dificuldade em escapar de oposições caricaturais. Mas empreendimento de salvação pública, humilde e persistente.
___________________________
[*] Mise en abyme é um termo francês que costuma ser traduzido como "narrativa em abismo", usado pela primeira vez por André Gide ao falar sobre as narrativas que contêm outras narrativas dentro de si. É uma técnica que consiste em inserir uma obra dentro de si mesma, criando um efeito de reflexão infinita. Essa técnica é frequentemente utilizada na literatura, nas artes visuais e no cinema para explorar a noção de representação e autoreferência.
quinta-feira, 14 de março de 2024
João Costa: um ministro da educação que confundiu persistência com teimosia. E agora?
Não sou muito de ilusões ou desilusões. Mas confesso que João Costa, com as expectativas que criou, na imagem conciliadora que deu de si enquanto secretário de estado, no tempo da pandemia, acabou por se revelar uma grande desilusão, não pela "promessa" de renovação pedagógica que trouxe, mas pela caminho que usou na sua concretização, que deu no que deu! Daqui esta irritação estranha, que suplanta a irritação que senti, relativamente a outros ministros da educação que o antecederam e que, sem grandes expectativas e sem ilusões da minha parte, não tinham como desiludir-me.
João Costa por excesso de voluntarismo, talvez, ou na ânsia de atingir rapidamente os fins a que se propôs, e incapaz de negociar com os professores, consegue o feito "notável” de aprofundar a interpretação da pedagogia como aplicação burocrática de protocolos estandardizados. “Desconhecendo” (?) que, num sistema escolar ultra-burocratizado, os professores correm o risco de “sucumbir ao vírus da hierarquia burocrática, de pais perdidos, ou de colegas receosos” [1], arregimenta a máquina burocrática do seu ministério e das direcções dos agrupamentos de escolas, ao serviço do seu programa. Preferiu, assim, a lógica da sujeição à lógica da emancipação que caracteriza a política educativa que queria promover, ao deixar engordar o monstro sufocante de registos de controlo [2]: terá pensado, talvez, que o diálogo com os professores poderia ser feito através de directores, exímios no controlo burocrático das práticas. Não deu conta (?) que, com esta escolha, afastava os professores do processo de renovação pedagógica e desacreditava, aos olhos destes, o que de melhor se produziu, na pedagogia, nos últimos cem anos [3]. Foi obra! Com professores sem tempo para falarem entre si sobre a sua prática pedagógica, mas apenas para reunir à volta da construção da “grelha”, que ajuda a administração a controlar o seu trabalho, só poderíamos chegar aqui: desgastados pela contaminação burocrática das propostas, grande parte dos professores já não consegue, lamentavelmente, ouvir falar de pedagogia de projecto, de gestão flexível do currículo, de trabalho cooperativo, de educação para a cidadania... etc., etc.[4].
Cheio de certezas, João Costa meteu-se ao caminho, sem cuidar de saber se caminhava acompanhado ou sozinho. Tivesse seguido a máxima “Há um destino mas nenhum caminho; aquilo a que chamamos caminho é a hesitação” [5] ter-se-ia dedicado, quem sabe, a acompanhar as hesitações de quem vive o dia a dia da sala de aula, e a “criar as condições para a partilha de experiências”, no pressuposto de que “as dinâmicas de inovação devem ser construídas por adesão voluntária dos professores no exercício da sua autonomia e liberdade” [6]. Mas, infelizmente, insistiu e insiste ainda em dar de si a imagem de quem confunde persistência com teimosia. Só mesmo por teimosia, alguém prestes a passar a pasta ao senhor que se segue, é capaz de insistir na realização de exames e provas de aferição em plataformas digitais [7]!
“A partir de certo ponto – dizia Kafka – já não há regresso. Há que atingir este ponto” [8]. João Costa não atingiu ponto algum. Pior, conseguiu, talvez, atingir o ponto que nenhum ministro quereria atingir: o ponto de ruptura [9]. Conseguiu colocar contra si a maior parte daqueles que o acompanhavam nos fins que elegeu e, pasme-se, não conseguiu dar por isso! "Se as políticas de educação não servem para abrir novas possibilidades de futuro, então para que servem?", interrogava-se António Nóvoa. Que desperdício: desbaratar o apoio de tantos, que o seguiam nos fins que elegeu!
Aqui chegados e com um novo governo à porta, pouco se sabe sobre o que se projecta para a educação. As grandes questões passaram ao lado da campanha eleitoral e os programas dos partidos adiantam pouco. Retenho, no entanto, uma medida que consta no programa da A.D.: a fusão do 1º e 2º Ciclos, num único ciclo de ensino [10]. Não sei o que farão com ela: se fará apenas parte de um conjunto de medidas que visa, a curto/médio prazo, combater a falta de professores, e recuar em tudo mais que o actual ministro não conseguiu levar a bom porto, ou se vem também para integrar uma ideia de renovação pedagógica [11], mantendo uma ou outra “bandeira”, de João Costa: aquela, por exemplo, da gestão flexível do currículo, mais amiga de uma escola inclusiva, que promove a ligação entre saberes. Não sei. Mas olhando o perfil dos ministros de educação do PSD que o antecederam, sem querer fazer futurologia, o mais certo é um tremendo retrocesso relativamente aos fins que João Costa definiu. Sem ilusões, espero para ver.
Nota sobre o perfil de um futuro ministro da educação.
É interessante observar os exercícios que se fazem por aí, na tentativa de adivinhar o nome de quem poderá vir a ser o futuro ministro da educação. Para além do regresso de Nuno Crato, de fraca memória, Alexandre Homem de Cristo é nome de quem se fala. Não sei se será o nome do futuro ministro, mas a divulgação do seu nome é já um sinal, uma forma de condicionar, talvez, a escolha de um perfil. Acho que não seria descabido revisitar as crónicas que escreve no Observador, para ficarmos com uma ideia do que poderá vir por aí.
Daniel Lousada
[1] Nicolas Go, in Freinet: l’arternative. Principes et orientations. Chronique sociale, Lyon, 2022, p. 61.
[2] Tudo ou quase tudo que emana do ministério da educação chega à escola e é transformado numa sigla, e a expressão que esta codifica passa a ser outra coisa: pedido de resposta, num formulário, a uma pergunta que o professor não fez, não teve necessidade de fazer, que não decorre do seu trabalho, e ajuda muito pouco a reflectir sobre ele. Ver >>>
[3] “Os processos de transformação e de metamorfose da escola não se constroem a partir de novas leis, reformas tecnológicas, mas com a criação de condições para partilhar experiências, com liberdade e apoio dos poderes públicos (Nóvoa, 2023).
[4] Para o clima vivido nas escolas, não concorreu apenas a contagem do tempo de serviço para efeito de progressão na carreira. Acho que o entendimento do ministro sobre o significado de “adesão voluntária” contribuiu e muito para a insatisfação dos professores. Veja-se a título de exemplo o projecto MAIA: os directores dos agrupamentos de escolas dizem ámen e o que era facultativo virava logo obrigatório.
[5] Franz Kafka, Aforismos, Lisboa, Assírio & Alvim, 2008: p. 31.
[6]António Nóvoa, jornal Público, 6 de Janeiro de 2023.
[7]Poderia manter, talvez, neste formato, as provas na área das Tecnologias de Informação e comunicação, cumprindo parte da sua agenda, nesta matéria.
[8] Franz Kafka, idem, p. 50.
[9] Imaginando o “Jogo da Glória”, João Costa quis levar a educação até céu e, no percurso, em grande parte feito de muita teimosia, caiu na casa do inferno. Agora, o mais certo é o regresso à casa de partida.
[10] Até nisto o ainda ministro conseguiu desbaratar a maioria absoluta de que dispunha, não se lembrando (!) de iniciar a reestruturação dos ciclos de ensino básico, há muito pensada mas nunca iniciada por incapacidade em afrontar o poder corporativo liderado pelos sindicatos, com receio de que tal resultasse na redução de turmas e consequente excesso de professores – algo que já se sabia ser o contrário.
[11] Afinal, a principal motivação que está na sua origem, quando surgiu ainda no século passado.
quinta-feira, 7 de março de 2024
A reestruturação dos Ciclos do Ensino Básico.
No século passado ainda [final dos anos oitenta, inícios dos noventa talvez], foi lançada a ideia de estender o modelo de monodocência até ao sexto ano, eliminando desta forma o 2º Ciclo do ensino Básico. Julgo que a formação de professores do Ensino Básico, que junta a uma formação generalista uma variante disciplinar, contemplava já esta possibilidade. A ideia não avançou, e continuamos onde estamos.
Os argumentos a favor ou contra esta ideia são conhecidos. Há-os para todos os gostos na net. Não vou, portanto, listá-los aqui. Começo então por comentar a opinião daqueles que, ao verem este tema discutido no relatório "Educação 2022", defendem que, "numa altura de grande escassez de professores, presente e futura, nada acontece por acaso"[1]. Também nesta coisa dos acasos é possível encontrar acasos para todos os gostos. Quando, no tempo do governo de Passos Coelho, a fenprof parecia abrir porta à divisão do currículo do 1º Ciclo em "fatias"[2], dizia-se, não por acaso também, haver excesso de professores. Não é portanto por acaso que, nesta sucessão de acasos, sejam ora os interesses da tutela ora os interesses corporativos a trazer o tema da fusão entre ciclos para a agenda.
Uma coisa parece certa: de acordo com o jornal Público, o tema é assunto, pelo menos, no programa da A.D., mas desconheço em que termos. Nisto da leitura de programas eleitorais, sou como a generalidade dos portugueses: fico-me pelo que se diz. Por vezes, é certo, nestas coisas, nem o que se escreve se faz, quanto mais o que se diz. Mas, à cautela, o melhor é estarmos atentos e prepararmos-nos para reagir ao que pode vir por aí.
A fusão de ciclos, mantendo a monodocência, ou avançando com a pluridocência a partir do 3º ano, são hipóteses pensadas no passado. Fica por saber o que esta pluridocência significa. É que entre a docência partilhada com um professor coadjuvante, e a divisão do currículo em disciplinas, leccionadas por professores especialistas nos respectivos conteúdos disciplinares, a diferença é enorme.
Há compatibilidade entre monodocência e pluridocência? Sim. Não é preciso dispensar o modelo em vigor no 1º Ciclo, para permitir a entrada de professores especialistas desta ou daquela área disciplinar. Têm é de entrar para apoiar e não para substituir o professor titular, à semelhança do que acontece, por exemplo, com a educação especial. Mas isto, a meu ver, implica que se repense o serviço de apoio aos professores e seus alunos, e o perfil dos respectivos especialistas [3].
No 1º Ciclo, o que se passa com a disciplina de inglês, nas situações que observo, reflecte um modelo incompatível com o regime de monodocência. Faz parte do currículo deste Ciclo, mas parece um corpo estranho a correr fora dele. Para mim, que apoio, convictamente, a extensão da monodocência até ao 6º ano, não me faria impressão alguma ver a língua inglesa a partir mesmo do 1º ano, desde que a sua entrada se desse como mais um instrumento de cultura que nos liga ao mundo, interligada com outras componentes do currículo [4]. Como nem todos os professores do 1º Ciclo sabem o mínimo dos mínimos, indispensável para ensinar inglês, há o especialista que os coadjuva, podendo o professor do 1º Ciclo, que se mantém na sala de aula, como figura tutelar de referência, aprender com ele, apoiando os seus alunos enquanto aprende com eles [5]. Seria a aprendizagem cooperativa professor/aluno, no seu melhor, atrevo-me a dizer.
____________________________
[2] "A reorganização do 1º CEB que se defende, (...) implica o fim do regime de docência com um único professor para todas as áreas curriculares" [Jornal da FENPROF nº 274, Dezembro 2014, p.18].
domingo, 3 de março de 2024
O que é cooperar?
Do latim opus, que significa tanto o trabalho quanto a obra, a palavra designa o produto concreto do trabalho [operari significa trabalhar]. O prefixo cum [“com”] indica que o trabalho é feito em conjunto. É, portanto, a associação de duas ideias, a do trabalho e a do que é comum. É uma certa forma de trabalho, cuja propriedade é que seja feito em comum. Mas o que é esse comum? E como se concebe esse trabalho? CONTINUAR A LER >>>
sexta-feira, 1 de março de 2024
Pedagogia: em busca de um tempo presente de alegria de viver
Práticas
Sabemos bem que a obra de Proust não relata o percurso de quem procura o que perdeu, mas que se apresenta como a criação literária de um mundo sensível. Da mesma forma, a pedagogia não trata o tempo como algo que deve ser racionalizado para não ser desperdiçado. Molda um tempo de subversão das instituições escolares. Abre a possibilidade de um outro mundo, um tempo presente de alegria de viver, um tempo de poder supremo sobre o trabalho.
O tempo perdido é o de um presente sem desejo, LER MAIS >>>
domingo, 25 de fevereiro de 2024
Educação: entre "ducere" e "agere"
Sabemos que pedagogo deriva do grego paidagôgos – “aquele que guia as crianças” –, uma palavra composta de paidos – que se refere a um filho e que pode ser interpretada também como criança – e do verbo agein, que significa "conduzir, guiar". Na antiguidade, o pedagogo não era o professor, era o empregado [normalmente um escravo] encarregado de acompanhar a criança à escola, [levava-lhe a sacola e a lanterna com que iluminava o caminho do seu jovem amo], e tinha como função a formação e a educação moral ou, no sentido metafísico, a de "condutor de almas".
Uma grande maioria das palavras gregas são as de uma civilização de pastores, guias de rebanhos. O termo agein – conduzir – está próximo de agelê, que significa rebanho, manada, e que acabou por se transformar, no latim, em agere, que quer dizer agir. Isto para dizer que o significado de conduzir que é atribuído à palavra grega agein tem o sentido de "empurrar à frente". Como é que se conduzem os rebanhos? Empurrando-os à frente. Não é o pastor que programa o caminho dos animais, são os animais que, por si sós, na exploração que desenvolvem através do pasto existente, controlam o caminho de acordo com as suas necessidades. É uma relação rebanho/pastagem. O pastor limita-se a estimular os que param ou se perdem. A evolução da língua, em latim, levou ao termo ducere, que significa também "conduzir", mais precisamente, "conduzir indo à frente", e foi deste verbo que derivou a palavra educação. Temos então "ducere” – “conduzir indo à frente" – e “agere” – “empurrar à sua frente" ou fazer caminhar. Dois tipos de pedagogia.
* In "A criança autora: para a construção de uma prática de emancipação >>>
sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024
D' "A sociedade do resumo"
No "perfil" de um amigo (o perfil é do facebook, mas o amigo é de verdade), damos com o artigo "A sociedade do resumo" [09.02.2024], de Filipe Gil, editor do Diário de Notícias.
A propósito do livro "Smart Brevity", que explora "o poder de dizer mais com menos", Filipe Gil não resiste a comparar o comportamento da sua geração com o comportamento da geração actual, face ao consumo dos bens de cultura:"Naquele tempo" (o seu), "há menos de trinta anos, os bons alunos explicavam, escreviam e, pasme-se, pensavam", dando a entender que os bons alunos, hoje, não explicam, não escrevem e, pasme-se, não pensam! Será? Não sabemos! Como não sabemos, e Filipe Gil não explica, se os bons alunos não pensam porque não explicam como querem que expliquem; ou se não explicam porque escrevem o que pensam na mesma forma rápida e sucinta, que já naquela época safou o autor da “sociedade do resumo”, em tantos testes e exames, com notas acima da média, dando-lhe acesso à desejada categoria dos bons alunos.
Mas sabemos que os 30 anos que medeiam os tempos a que Filipe Gil se refere não conheceram alterações tão significativas no sistema educativo português que permita que, hoje, um aluno que não leia e não pense possa ser um bom aluno, assim como não acreditamos que o sucesso dos bons alunos de ontem passasse pela leitura de muitos livros, com muitas páginas[1] e por um pensamento aprofundado sobre os assuntos. Há trinta anos, eram também muito poucos os que "explicavam, escreviam e pensavam", a maioria lia apenas o estritamente necessário[2] para atingir os objetivos definidos pela escola. As excepções existiam, como continuam a existir, no presente.
Então o que leva Filipe Gil a convocar a “sociedade do resumo” para acusar os jovens de hoje da falta de pensamento?
Curiosos, e para não nos metermos a comentar o assunto completamente às escuras, fomos à procura do livro, que Filipe Gil identifica de "quase auto-ajuda", e encontramos uma amostra (gratuita) da versão digital, disponível na Amazon. A leitura da amostra satisfez a nossa curiosidade, dispensando-nos do investimento no livro, por falta de entusiasmo pelo conceito. “Não nos adaptámos ao excesso de informação", é a constatação de partida, legítima a nosso ver, dos autores de smart brevity, administradores de uma empresa de média, dedicada a ganhar dinheiro com a informação tratada, que disponibilizam aos "leitores mais influentes e exigentes para consumi-la - CEOs, líderes políticos, gestores e curiosos viciados em notícias", oferecendo-lhes a notícia em menos palavras, breves apontamentos, talvez .
Aqui chegados, achamos que só na falta de entusiasmo pelo modelo de negócio em que assenta o conceito de smart brevity nos aproximamos de Filipe Gil; de tudo mais que defende no seu artigo, afastámo-nos. “Estamos a deixar que esta sociedade do resumo aconteça", diz o editor do DN, qual representante das gerações dos "trinta e muitos, quarentas e cinquentas", como se a sociedade que identifica “do resumo” dependesse da nossa autorização ou da vontade dos jovens que critica para acontecer.
Quanto a nós, o que vivemos hoje em dia, na forma de ‘resumos’ está longe de ser algo que apenas atinge os mais jovens, e não conseguimos identificar-nos ou embarcar neste tipo de "guerras geracionais" de valor, assentes em descrições que, a nosso ver, são úteis apenas para excluir a hipótese de que estamos errados ou, como refere Maria Zara Coelho[3], de a escola estar enganada, de os adultos que o fazem, e sobre ela escrevem, estarem a deixar fugir cada vez mais a realidade que pretendem modelar: é o triunfo da cultura prescritiva de que fala Machado Pais[4], justificada pela massificação do ensino, sujeito cada vez mais a uma economia de escala. Infelizmente, na escola, como nos jornais que a contam, as perspectivas tão diversificadas dos jovens pouco valem”[5].
Vivemos, como sempre vivemos, num mundo feito de “ondas” que, indiferentes a quaisquer tentativas de controlo, e não se deixando navegar (apenas surfar), seguem o seu caminho influenciando a nossa forma de pensar. Acontece que a maior parte dos jovens da nossa geração (a tal dos trintas, quarentas, e mais) deixavam-se, apenas, ir na onda! Quer dizer, sem desafio e sem escolha, limitavam-se a segui-las sempre rumo às praias que lhes eram indicadas. Não sendo mais possível garantir que os jovens seguem a onda indicada, resta-nos, com eles, identificar as ondas que melhor nos servem, cuidando que somos capazes de surfá-las para não nos deixarmos afogar por elas. Até porque não são só os jovens que correm o risco de não chegar à praia. E hoje, quer pela dimensão quer pela natureza das ondas, não fica claro o lugar de quem aprende e de quem ensina neste processo de surfar: em muitos aspectos, não estamos seguros de estar suficientemente habilitados para surfá-las: só em cooperação com os jovens – e eles connosco – nos manteremos à tona.
”O modo como pensamos depende do modo como comunicamos”[6] – defende Castells[7] –, ou como surfamos, diríamos mantendo a analogia. E, neste sentido, afirmamos a urgência de encarar a dimensão geracional, não numa lógica de oposição, mas de relação. Como pensam os jovens, como se relacionam entre si? De que forma procuramos conciliar os seus interesses (se é que procurámos conciliá-los) com os interesses de uma escola tão pouco flexível?[8] Tudo desafios que só no interior de uma profunda reflexão pedagógica é possível enfrentar. Um problema da pedagogia que, na falta dela, se agudiza dia após dia!
___________________________________________________
[1] Embora presente em muitos professores e na sociedade em geral, a ideia de que os estudantes (bons ou maus) “não pensam” é absurda. Os jovens pensam, e provavelmente não pensam menos do que as gerações anteriores, até porque o mundo em que vivem é muito mais complexo: estruturas enfraquecidas; enorme volume de informação diversificada e contraditória; incerteza e risco na percepção do futuro ...[2] Convém recordar que o livro era quase um bem de luxo, raro nas casas das famílias portuguesas.
[3] Jovens no discurso da imprensa portuguesa: um estudo exploratório. Análise social, vol XLIV (191), 2009, pp. 361-377.
[4] 2001, p. 414
[5] Neste afã de olhar o lado negro do mundo, não vêem que o futuro se vai fazendo, de preferência de forma participada, envolvendo os jovens.
[6] Não há pensamento sem comunicação. E o outro está sempre presente quando pensamos, mesmo no diálogo interior que aprendemos a fazer na sua ausência, a partir dos inúmeros diálogos que tivemos com ele.
[7] Ver registos vídeo: Escola e internet>>> e O poder da juventude é a autocomunicação>>>
[8] O interesse, aqui, tem o sentido que lhe é atribuído por Daniel Pennac, que o distingue do desejo: o que desejamos nem sempre é do nosso interesse. Quantos alunos conhecem o programa (não os conteúdos dos manuais escolares), que faz parte do seu contrato com a escola, essencial na construção das pontes entre os interesses em confronto?
sábado, 10 de fevereiro de 2024
Tecnologia Digital: Extensão ou substituição? Mais outras interrogações e a pedagogia no horizonte
 Tema em desenvolvimento, iniciado a partir das interrogações de Isabel Calado, que tomamos a liberdade de fazer nossas, saídas da 75ª "Tertúlia Inquietações Pedagógicas".
Tema em desenvolvimento, iniciado a partir das interrogações de Isabel Calado, que tomamos a liberdade de fazer nossas, saídas da 75ª "Tertúlia Inquietações Pedagógicas".Embora a minha preocupação, como professor, no que diz respeito à tecnologia digital, tenha ido no sentido do uso que lhe poderia dar como instrumento auxiliar do meu trabalho, de tirar o melhor partido dela, no dia-a-dia da sala de aula, hoje acho que acompanharia Isabel Calado, na sua preocupação, e estaria muito mais preocupado com o que a tecnologia pode fazer connosco, e não tanto com o que nós podemos fazer com ela!
Trata-se, sem recusar o conforto que a tecnologia traz às nossas vidas, de pensar o seu uso de um modo que não nos faça seus escravos, que nos paralisa quando nos afastamos dela.