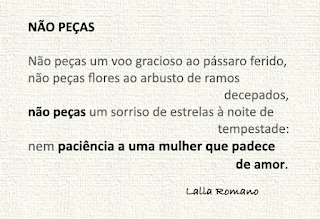Disponível também em PDF >>>

Comecemos por um dos principais pensadores da educação emancipadora, Paulo Freire. Trabalhador social brasileiro, Freire começou por reflectir sobre a educação antes de se doutorar em filosofia, em 1959, sobre a relação entre educação e liberdade. Em seguida, volta-se para a educação popular, concentrando-se na alfabetização dos camponeses. Em 1964, o governo brasileiro confiou-lhe a responsabilidade por um programa nacional de educação. Essa experiência foi interrompida pela ditadura militar, que o levou ao exílio durante quinze anos. Foi neste período que produziu a maior parte das suas reflexões pedagógicas, que viriam a ter um enorme impacto, especialmente durante os anos de transição democrática no Brasil, onde se tornou praticamente o pedagogo oficial [1]. Embora tenha trabalhado apenas no contexto da educação popular, é, no entanto, um dos autores mais representativos das "pedagogias críticas", ou seja, aquelas que promovem a transformação social e estão ligadas à luta contra a opressão [2].
Para Freire, qualquer trabalho sobre a opressão começa com a busca dos seus fundamentos e de como ela funciona como sistema. Descreve isto como "consciencialização", que não se limita à tomada de consciência da sua condição de oprimido (para isso, ninguém precisa de qualquer tipo de pedagogia), mas na qual os mecanismos de opressão são explicitados. Neste sentido, esta nova consciência dirige-se tanto aos dominantes como aos dominados. Mas, ao contrário da versão neoliberal da emancipação, este trabalho não tem como objectivo permitir que os oprimidos se tornem dominantes. Pelo contrário, o objectivo da tomada de consciência é abolir todas as formas de dominação — a única condição para uma verdadeira emancipação social. É por isso que as pedagogias críticas influenciadas pelo modelo de Freire são feministas, anti-racistas e anti-capitalistas. São pedagogias libertadoras. Neste sentido, ajuda a libertar-se de todas as formas de dominação social.
Como nos lembra o prefácio de Irène Pereira, o "método" de Freire para alfabetizar os camponeses é muitas vezes confundido com a sua pedagogia, que vai muito mais longe: é uma forma de pensar a emancipação através da educação. Ao colocar a relação entre o professor e o aluno — que ele descreve como "diálogo" — no centro da sua pedagogia, Freire opõe-se à pedagogia bancária. Vista como o produto de uma situação dialógica, a aprendizagem, para Freire, implica igualdade na relação ensinante-ensinado, não tanto igualdade de conhecimentos mas igualdade de posições, no sentido em que cada um está envolvido numa relação cujo resultado, em termos de transmissão de conhecimentos, depende da qualidade do diálogo.
Neste sentido, Freire distingue-se de uma das obras fétiche dos pedagogos de vanguarda, Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Para este filósofo, existe uma equivalência estrita de conhecimentos entre quem ensina e quem aprende. Rancière baseia a sua concepção da educação nas teorias de Joseph Jacotot, um professor do século XIX, que conseguiu ensinar francês a alunos cuja língua não compreendia, guiando-os simplesmente através de uma edição bilingue. Desta experiência, Jacotot derivou para um "método de ensino universal" baseado na ideia de que o aluno pode passar sem o professor. A partir deste sistema, Rancière deduziu que existe uma equivalência estrita entre o aluno e o professor: se este último aceitar abolir o domínio que lhe é conferido pela sua "autoridade", o seu magistério, facilitará a aprendizagem; pelo contrário, qualquer explicação é uma tentativa de dominar. A horizontalidade pedagógica, a ausência de distinção entre os que sabem e os que não sabem, é uma condição prévia para a aprendizagem e a emancipação. Neste modelo, o único papel do professor é o de consciencializar os alunos de que são capazes de aprender sem ele. Ensinar não é transmitir conhecimentos, mas utilizar a própria inteligência do professor para esclarecer o aluno. Enquanto a pedagogia tradicional revela a incapacidade dos alunos de passar sem o professor, a pedagogia antiautoritária promovida por Rancière "põe em prática a capacidade que o aluno já possui" [3]. Em suma, o professor que pretende compensar a ignorância dos seus alunos legitima o ciclo perpétuo de desigualdade que justifica a sua condição de existência como professor.
Para uma boa parte da esquerda radical, Le Maître ignorant é a bíblia da pedagogia emancipatória. Sensibiliza para a relação de dominação inerente a qualquer relação educativa e recorda-nos, com razão, a igualdade da inteligência e que "todos e todas são capazes de..."[4]. No entanto, apesar de Jacotot ter testado o seu "método de ensino universal", ele foi essencialmente experimentado num contexto universitário ultra-elitista e burguês, e foi desde o início objecto de críticas e controvérsias [5]. A sua eficácia, ou mesmo a sua transposição para um contexto de ensino de massas, da escola primária ao liceu, não é plausível, tendo em conta o que sabemos sobre as teorias da aprendizagem e o seu carácter socialmente diferenciado. Menos etérea e mais contemporânea, a pedagogia de Freire, um profissional que trabalhava com as classes populares, parece mais transponível para a resolução das relações de dominação num contexto pedagógico, precisamente porque insiste na "praxis" (acção-reflexão). Além disso, a abordagem de Freire parece permitir ultrapassar o antagonismo entre Bourdieu e Rancière [6].
Se compreendemos as críticas muitas vezes feitas a Bourdieu quanto ao peso do determinismo e do fatalismo que decorre das suas análises, não podemos acusá-lo de se ter limitado a descrever os mecanismos de dominação sem procurar remediá-los. A sua "pedagogia racional" deve ser acrescentada à lista das propostas emancipatórias [7]. Entre elas, a preocupação de reduzir a distância entre o professor e os alunos, mas também entre os alunos: em primeiro lugar, a distância social, uma vez que se pede ao professor que elimine as noções implícitas inerentes à cultura escolar”; e, em segundo lugar, a distância intelectual, uma vez que se trata de colmatar as lacunas de conhecimento entre os dois parceiros da relação educativa. O GRDS (Groupe de Recherche sur la Démocratisation Scolaire) e sociólogos da educação, como Stéphane Bonnéry e Sandrine Garcia, trabalham estas propostas em termos de "pedagogia da explicitação"[8], que deve também ser associada aos trabalhos sobre o "currículo oculto" iniciados por sociólogos como Basil Bernstein [9]. Para estes autores pioneiros sobre a relação entre as práticas linguísticas nos meios populares e a reprodução das desigualdades na escola, os métodos de ensino explícitos deveriam ser promovidos em oposição aos que eles descreviam como "invisíveis".
À sua maneira, Freinet conciliava todas estas posições quando escrevia, em maio de 1933, no seu editorial para L'Éducateur prolétarien: "Não formamos a criança: fornecemos-lhe o máximo de elementos, o máximo de instrumentos, o máximo de possibilidades para que, partindo do que ela é, no seu meio, possa atingir a realização individual e social de que é capaz. [...] O dever dos educadores não é agradar aos poderosos do momento; a nossa tarefa é outra – temo-lo afirmado sempre: é formar cidadãos conscientes. Pois bem! Levamos simplesmente o nosso papel a sério!” Não é necessário multiplicar os exemplos até ao infinito para perceber até que ponto todas estas ideias emancipatórias merecem ser trabalhadas, experimentadas e integradas na formação de professores. Porque todas elas têm um potencial emancipador, desde que se dirijam às crianças que mais precisam delas, e desde que se concentrem em quebrar todas as formas de dominação, o que é uma condição prévia para a construção de uma verdadeira igualdade e de uma escola comum. Em vez disso, estas pedagogias permanecem confinadas ao interior da investigação universitária e ao mundo militante, sob o olhar benevolente dos destruidores de escolas públicas que ocupam os ministérios do governo Macron. É, pois, urgente trabalhar no sentido de as popularizar e fazer com que sejam apropriadas por outras correias de transmissão — enquanto esperamos por melhores dias.
___________________________________
[1] Ler o prefácio d’Irène Pereira à Paulo Freire, La Pédagogie des opprimés, Agone, 2021.
[2] Ler Laurence De Cock et Irène Pereira (dir.), Les Pédagogies critiques, op. cit.
[3] Jacques Rancière, “Sur le maître ignorant “, Multitudes.net.
[4] Infelizmente, o slogan “Todos podem” também foi cooptado por neoliberais e neurobeatos. Stanislas Dehaene, autor em 2007 da popular obra Les Neurones de la lecture é a figura de proa desta neurobeatitude. (...): "A longo prazo, o seu sonho seria unificar as ciências sob a bandeira de um cognitivismo capaz de produzir nada mais nada menos do que uma teoria global do cérebro, mas também dos diferentes aspectos da actividade humana – direito, economia, política, etc. – com base na hipótese de que as leis que actuam nos processos cerebrais se encontrariam, em particular, nas realizações sociais". Não poderia haver expressão mais clara da vontade de contornar o factor social na luta contra as desigualdades educativas. Sob a capa da filantropia, o grande capital, ajudado por políticos e cientistas sem escrúpulos, tenta influenciar reformas educativas baseadas no ideal empresarial. Esta visão individualista, dificilmente compatível com a escola pública, enfrenta uma grande oposição, pelo menos por parte dos professores [Laurence de Cock, À l’école du scientisme et de la neurobéatitude – um dos capítulos do livro que que faz parte este texto: École publique et émancipation sociale].4. Eva Codognet et Guillaume Tremblay, «Joseph Jacotot, pédagogue radical, 1770-1840», Democratisation-scolaire.fr, 3 février 2020. 4. Eva Codognet et Guillaume Tremblay, «Joseph Jacotot, pédagogue radical, 1770-1840», Democratisation-scolaire.fr, 3 février 2020.
[5] Eva Codognet et Guillaume Tremblay, «Joseph Jacotot, pédagogue radical, 1770-1840», Democratisation-scolaire.fr, 3 février 2020
[6] Charlotte Nordmann, Bourdieu/Rancière. La politique entre sociologie et philosophie, Amsterdam, 2006. 7 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers…, op. cit., p. 114.
[8] Stéphane Bonnéry (dir.), Supports pédagogiques et inégalités scolaires, La Dispute, 2015 ; Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller, Réapprendre à lire. De la querelle des méthodes à l’action pédagogique, Seuil, 2015.
[9] Basil Bernstein, Langage et classes sociales. Codes socio-linguistiques et contrôle social, Minuit, 1975.