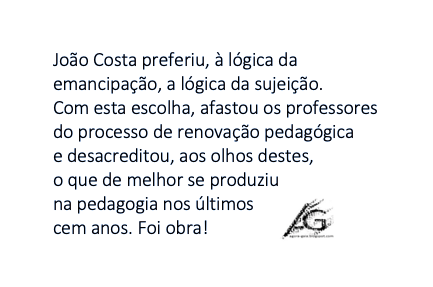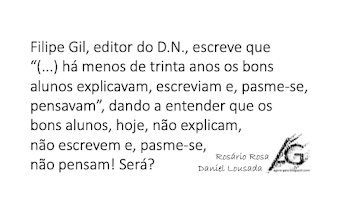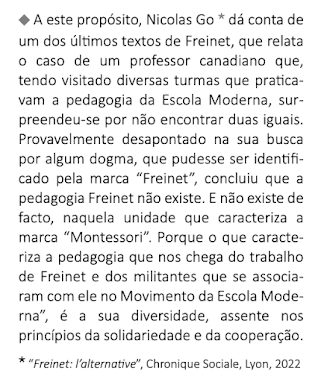Educação para a cidadania e educação para a transmissão e acumulação na área das humanidades são dois tipos de educação que funcionam em planos distintos, mas se tocam e completam [**]. Dizendo isto, parto do princípio de que a educação para a cidadania não veio (ou se veio não deveria ter vindo) para roubar o espaço ocupado por outras áreas, mas para alargar o espaço que o modo de transmissão e acumulação, próprio das diferentes áreas disciplinares, convida a alargar. Diria que a educação para a cidadania obriga-nos também a viver naquele espaço que vai daquilo que dizemos àquilo que fazemos, enquanto professores.
A Educação para a Cidadania não tem vocação de disciplina. É área curricular não disciplinar. Só foi “elevada” (ou melhor, despromovida) à condição de disciplina porque os 2º e 3º Ciclos e Secundário, por força da organização do seu currículo (um professor/uma disciplina), não se dão bem com conteúdos transdisciplinares. Ora, transformar em disciplina o que não tem vocação para o ser, só poderia dar no que deu. Poderia ser de outra forma? Podia. Mas isso implicaria libertar os professores das amarras burocráticas que os tolhem, que fazem da tradução de uma ideia numa prática um registo interminável de dados, em toneladas de papeis (ou pixels), que nem as teses de doutoramento mais complexas conseguem produzir. E que, já agora, ninguém lê.
No 1º Ciclo, a Educação para a Cidadania é área curricular não disciplinar, e nem por isso os conteúdos a trabalhar deixaram de ficar bem identificados. Cabe ao professor abordá-los pelo lado das disciplinas que melhor os servem; ou por uma situação problema que leva à construção de um projecto, não disciplinar, de natureza curricular (porque todos têm de ficar a saber o que aprenderam com isso) — há professores que abordam muitos conteúdos das áreas disciplinares, seguindo esta via. Se bem que, para isso, o façam de forma “clandestina”, para contornar o espartilho que é a organização da sua agenda semanal, por disciplinas, que lhes é imposta, segundo a fórmula em uso nos outros níveis de ensino, contrária à natureza do seu currículo. LER>>>
A dificuldade dos níveis de ensino pós 1º Ciclo, em se organizarem à volta de áreas curriculares transdisciplinares, já vem de longe. Do que me lembro, vem do tempo da “Área escola”, nascida da reforma ou revisão curricular (como lhe queiram chamar), de Roberto Carneiro, e depois rebaptizada de “Área de projecto”: primeiro foi a dificuldade no “encontro de vontades” entre disciplinas, e depois a avaliação a chegar como o “elefante na sala” a tolher tudo e todos. Acho que (ainda) não conseguimos ultrapassar isto. E não conseguindo…
Talvez seja mesmo como José Gil apontou: «Estamos a mudar de paradigma, sem que tenhamos aquele para o qual queremos mudar». Ou então temos, mas falta explicá-lo e encontrar forma de traduzi-lo numa prática. Porque, pelo que temos visto, aquilo que temos não serve.
___________________________
[*] Entrevista concedida ao D.N. 04.01.2019, conduzida por João Céu e Silva.
[**] Educação e instrução, na distinção tradicional, em relação às quais temos dificuldade em encontrar uma prática consequente que as faça uma só.