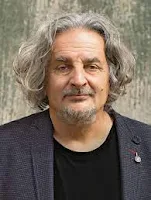Philippe Meirieu, in "Dictionaire inattendu de pédagogie", ESF, Paris, 2021: pp. 16-22Versão portuguesa de Daniel Lousada
DISPONÍVEL TAMBÉM EM PDF >>>
O que é um pedagogo?
À pergunta "O que é a pedagogia?", Jean Houssaye responde definindo "o pedagogo" como "um pratico-teórico da acção educativa. Ele procura combinar teoria e prática com base na sua própria acção, para obter uma conjunção perfeita de uma e outra, numa tarefa que é ao mesmo tempo indispensável e impossível na sua totalidade (caso contrário, seria a negação da pedagogia). Existe, de facto, um fosso irredutível entre a teoria e a prática: a prática escapa sempre, em certa medida, à teoria (não pode ser reduzida aos entendimentos teóricos que temos dela), e a teoria também excede sempre, em certa medida, a prática (é sempre possível produzir outros discursos teóricos sobre esta ou aquela acção). É nesta 'lacuna' (que tanto separa como une) que a pedagogia é 'feita'".
São os discursos, assim produzidos, pelos prático-teóricos da acção educativa, que marcam a história da pedagogia, tais como, entre outros: as Memórias do Doutor Itard, que lutou meses a fio para tentar educar Victor de l'Aveyron, quando todos os estudiosos da época concordaram que ele era um "idiota nato"; a Carta de Stans, na qual Pestalozzi, um "cidadão honorário da República Francesa", conta como conseguiu educar as crianças miseráveis e agressivas de uma aldeia devastada pelo exército do Directório. O Poema pedagógico, no qual Makarenko conta por que razão, na colónia de Gorki, que fundou pouco depois da revolução bolchevique, teve de recusar aos seus educadores, o acesso aos arquivos das crianças aí internadas, para que não as "prendessem no seu passado"; Como amar uma criança, de Janusz Korczak, autor da primeira "Declaração dos Direitos da Criança", que explica como, nos seus orfanatos, introduziu os contratos que permitiram a emergência da liberdade; A criança maravilhada, onde Germaine Tortel descreve os alunos do jardim-de-infância a aceder, colectivamente, a uma expressão artística cada vez mais exigente; A educação pelo trabalho, onde Célestin Freinet "volta à escola dos sábios da sua aldeia", para apresentar uma educação "que parece ser a solução futura para os problemas dramaticamente urgentes da preparação das jovens gerações"; e ainda, A criança, onde Maria Montessori combina conhecimentos médicos e biológicos, reflexões filosóficas e experiências pedagógicas, para abordar, em pequenos passos, as questões vivas da educação infantil.
O que caracteriza o empreendimento pedagógico?
Os textos mais emblemáticos, mais representativos, deste estranho "género literário", misturam testemunhos e profissões de fé, referências científicas e fugas poéticas, conhecimentos filosóficos e prescrições técnicas. São obras de um mundo longe dos tratados académicos reconhecidos pelo conhecimento universitário, mas que, no entanto, deixaram vestígios duradouros nas instituições e práticas educativas e, ainda hoje, podem ser fonte de inspiração para os seus leitores. De facto, o leitor é directamente confrontado com esta "fábrica" de pedagogia que Jean Houssaye evoca. Descobre pessoas que, como ele, têm de lidar com crianças que são frequentemente indisciplinadas, mas que devem acompanhar para que compreendam o mundo e contribuam para a sua renovação. Ele vê estas mulheres e homens, como ele, confrontarem-se com contradições, a hesitarem entre uma atitude atenta de esperar, para ver, e uma impaciência voluntarista, navegam à vista a fim de evitar tanto a resignação como a manipulação, e tentam, ao mesmo tempo, indicar a direcção a seguir enquanto treinam para a autonomia.
É por isso que nenhum tratado, por muito bem documentado que esteja, pode dar conta desta experiência educativa: ela só pode ser partilhada. E deve ser partilhada. Para compreender o que nos está a acontecer. Para que não pensemos que somos os primeiros a encontrar-nos um dia num beco sem saída. Para que não passemos as nossas vidas a sentir-nos culpados. E não acusar todo o mundo de nos terem lançado em dificuldades insuperáveis... Devemos caminhar com aqueles que, apanhados neste dilema, não ficam a excomungar os seus adversários, usando e abusando das caricaturas habituais: "tirano" ou "laxista", "autoritário" ou "demissionário", "conservador de mente estreita" ou "pedagogista inveterado"! Precisamos de tentar compreender como e porquê Montessori, Freinet e tantos outros não se podem enquadrar nestas categorias, como e porquê conseguiram escapar à crispação neurótica sobre um dos dois pólos da tensão constitutiva do empreendimento educativo, sem alternar, numa oscilação psicótica, entre um e outro. Precisamos de sentir a importância desta questão e de olhar de perto para as diferentes doutrinas pedagógicas que podermos agarrar.
O que é uma doutrina pedagógica?
Porque - como terás compreendido - a pedagogia não é uma ciência. Quanto mais a investigação nas ciências da educação deva ser científica, tanto mais as práticas pedagógicas não podem, nem devem sê-lo. As "práticas educativas científicas" garantiriam, obviamente, a sua eficácia, mas à custa da inscrição indivíduos a quem seria então negado o seu estatuto de sujeitos. Passaríamos, então, de um processo educativo para um processo de fabrico de que resultaria, a longo prazo, a concretização das piores previsões da ficção científica. Digamos, então, que a pedagogia é uma "teoria prática", como Émile Durkheim a definiu, ou, melhor ainda, uma "arte de fazer", segundo a bela expressão de Michel de Certeau.
Se olharmos agora, mais de perto, o discurso pedagógico, descobrimos que esta "arte de fazer" articula três pólos de uma forma original: um pólo das finalidades - que podem ser teológicas, filosóficas ou políticas; um pólo de conhecimentos - que diz respeito à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança, do seu ambiente sociológico ou das suas estruturas cognitivas; e finalmente, um pólo de práticas constituído por um conjunto de propostas em termos de métodos e instrumentos. O pedagogo actua sempre de acordo com um projecto, mobiliza conhecimentos e utiliza ferramentas. E, qualquer que seja o 'ponto de entrada' escolhido, a sua acção só é possível se conseguir manter estas três dimensões juntas, lucidamente, da melhor forma possível.
Além disso, estas dimensões estão sempre presentes em todos os discursos sobre educação, mesmo que algumas pessoas, por vezes, finjam esquecê-las: É o caso, por exemplo, dos defensores da "escola eficaz" ou da “política baseada na evidência”, que desqualificam a reflexão filosófica e política sobre a educação, considerando-a "ideológica", acreditando que estão assim a livrar-se do pólo das finalidades para basear as práticas educativas em “dados comprovados”. Mas esta desqualificação é em si mesma ideológica, e o cientismo é de facto, aqui, uma opção amarrada a finalidades de uma escola que pretende servir o sucesso individual quantificável, reduzido ao domínio de competências estandardizadas. Dificilmente, também, podemos passar sem conhecimentos, porque se a filosofia não prestar atenção ao trabalho sobre a criança e as condições da sua educação, só pode desenvolver prescrições gerais, ou mesmo evoluir para um pensamento mágico, dando a entender que a repetição obstinada de objectivos é suficiente para garantir a sua realização. Finalmente, a pedagogia também não pode prescindir de propostas concretas, caso contrário corre o risco de cair num discurso puramente "intencional" e de deixar os educadores completamente desamparados face às dificuldades que encontram.
Devemos, portanto, precaver-nos contra as três derivas que ameaçam a pedagogia: a deriva cientifica, que pretende deduzir práticas a partir de conhecimentos fisiológicos, psicológicos ou sociológicos e se recusa a perguntar: "Que crianças queremos formar, transmitindo que cultura e que valores, e para que sociedade?; A deriva prescritiva, que exige que os profissionais implementem certos métodos em certas instituições, ao mesmo tempo que contornam os conhecimentos fornecidos pelas ciências humanas sobre as condições da educação. E a deriva teorista, que não quer comprometer-se com a questão das práticas e recusa qualquer proposta de acção, arrastando-se numa neutralidade virginal.
Uma "doutrina pedagógica" é, por assim dizer, uma configuração particular de finalidades, conhecimentos e ferramentas, que consegue estabilizar-se ao encontrar uma possível coerência entre estes três componentes. Uma coerência que torna esta configuração aceitável, sem a tornar num sistema homogéneo, que se imporia ao excluir qualquer debate. Porque os valores que queremos promover, os factos que atestamos e os instrumentos que propomos, têm registos heterogéneos de legitimidade: os valores são legitimados pela reflexão filosófica e política, os factos pelas manifestações elaboradas pelas "ciências positivas" e os instrumentos o que torna possível a transformação da realidade. Os valores pertencem ao domínio do desejável, os factos ao da verdade científica e os métodos ao da eficácia pragmática. Que tudo isto é coerente e constitui, num dado momento, uma doutrina pedagógica, que podemos utilizar para educar os nossos filhos é, de certa forma, milagrosa...
Uma pedagogia dentro da pedagogia?
Aqui temos uma definição estabilizada do pedagogo - aquele que procura reunir a teoria e a prática da educação -, uma possível identificação do que caracteriza o empreendimento pedagógico - o trabalho sobre a tensão fundadora entre transmissão e emancipação - e uma estabilização aceitável do que constitui uma doutrina pedagógica - a articulação coerente de finalidades, conhecimentos e práticas.
Poderíamos provavelmente deixar as coisas assim. No entanto, isto seria esquecer que tudo o que acabo de afirmar aqui constitui, em si mesmo, um discurso pedagógico. E que este discurso - tão heterogéneo e composto como todos aqueles que citei - não pode de forma alguma reivindicar uma posição de superioridade. Não posso de forma alguma reivindicar qualquer 'objectividade científica' que me colocaria em posição de decidir sobre a verdadeira e falsa sub specie æternitatis [1]. Sou um pedagogo, menos prestigiado e menos realizado do que todos aqueles que estudei. Ofereço ao leitor apenas pontos de vista discutíveis, experiências a serem questionadas, perspectivas a serem discutidas. Para que o leitor, numa salutar mise en abyme [2], possa, por sua vez, construir a sua própria pedagogia.
__________________________
[1] O termo sub especie aeternitatis (latim, “sob o aspecto da eternidade”) foi consagrado por Spinoza para designar a necessidade do que é eterno (aeternitas), em contraste com a contingência de coisas e eventos temporais que têm duração.
[2] Expressão usada pela primeira vez por André Guide ao falar sobre as narrativas que contêm outras narrativas dentro de si.