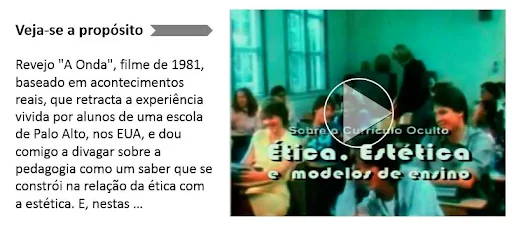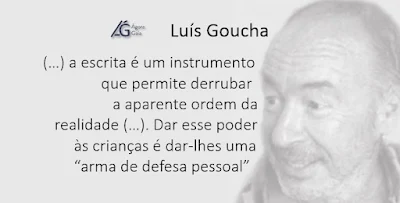Stanislas DEHAENE [1] desconfia de «cartilhas de desenhos e pouco texto. Existe o risco enorme de os alunos memorizarem as posições fixas de cada palavra. Dão a impressão de saberem ler, mas não sabem» − Já eu sou avesso a qualquer tipo de cartilha, tenha ou não bonecos. Haja um ministro da educação que se disponha a vedar-lhes a entrada na escola, e tem-me a seu lado. Mas isto são contas de outro rosário, que deixo para outras escritas −. «Em vez de focar os esforços no ensino das unidades visuais, é preciso mudar para unidades auditivas. Sons, fonemas», continua Stanislas DEHAENE, reforçando a ideia de que, no que diz respeito à aprendizagem da leitura, «o cérebro aprende melhor pelo som do que pela imagem»[2] Uma ideia a merecer algumas considerações. Vem isto a propósito da notícia que dá conta de que, em França, o «"Conseil scientifique de l’Éducation nationale" deplora a utilização do método misto nas escolas».
O tratamento fonológico da palavra é importantíssimo, ninguém tem sobre isto qualquer dúvida. Mas a aprendizagem da leitura não se reduz ao desenvolvimento da consciência fonológica. Até porque sem a imagem que nos chega pelos olhos [ou pelo tacto, no caso da pessoa cega], não há leitura: a leitura faz-se do encontro do fonema [que o ouvido aprendeu a captar], com o respectivo grafema [que os olhos aprenderam a ver]. E é na realização deste encontro que tudo se complica. Porque o fonema, que o grafema dá a ver, exige uma grande capacidade de abstracção: à silaba podemos chegar facilmente pela fala, falando pau-sa-da-men-te; mas ao fonema, fora de uma aprendizagem da leitura onde a palavra está ausente, só com muita dificuldade chegamos a ele, se chegarmos[3].
As crianças que memorizam as posições fixas das palavras não dão [porque não é isso que querem] a impressão de saberem ler. Esta impressão está somente na cabeça dos que vêem os seus gestos dessa forma. Elas estão apenas a fazer de conta. Uma forma muito própria de entrar no mundo dos adultos e do qual a escrita faz parte. Nós só temos de seguir os seus gestos e facilitar-lhes a entrada. Uma criança que "lê de memória"[4] sabe que não sabe "ler de verdade". Mas com isto aprende algo de muito importante sobre a escrita, se nos dispusermos a ensinar-lhe: que a posição da palavra na frase conta, e que se a palavra mudar de lugar a frase não é a mesma e, provavelmente, deixa de fazer sentido. E o mesmo se passa relativamente ao lugar que a letra ocupa na palavra.
Quando falo de leitura, falo da leitura que o fascínio da escrita nos convida a fazer. Um fascínio autêntico das crianças pequenas, que fica tantas vezes à porta da escola. Célestin FREINET foi, talvez, o pedagogo que melhor interpretou este convite numa prática. Abriu a escola à escrita [que o professor faz] da fala das crianças. Com ele a leitura é, desde o início do processo de aprendizagem, um meio de aceder a ela [escrita]. E, num tempo sem zonas iluminadas do cérebro para ver, a palavra surgiu na sua totalidade visual e sonora, plena de significado[5], no decurso da aprendizagem da leitura.
Nem tudo o que se passa no decurso do processo de aprendizagem da leitura e da escrita tem de ser "científico" ou se explica "cientificamente". Se Stanislas DEHAENE desconfia da utilização da imagem no ensino da leitura, eu desconfio das práticas pedagógicas amarradas unicamente a conclusões da ciência. A pedagogia não se dá bem com ditaduras científicas: tem na devida conta os conhecimentos que a ciência produz, mas não corre a fazer um método com eles: os resultados de uma pesquisa não são para ser, necessariamente, transformados num método. Caímos nesse equívoco no passado, e parece que queremos voltar a embarcar no engano: duas áreas do cérebro, ligadas ao tratamento fonológico, "iluminam--se" durante a aprendizagem da leitura, e corremos logo a proclamar as vantagens dos métodos fonéticos sobre os demais, como antes proclamámos a superioridade dos métodos globais, escudados então nas descobertas do gestaltismo. E esquecemos que um método didáctico é um protocolo para administrar com cuidado. Até porque nem todos reagem de acordo com o esperado, e é precisa muita atenção aos efeitos secundários!
___________________
[1] Director da unidade de neuroimagem cognitiva do Instituto Nacional de Pesquisa Médica e de Saúde de França [in Aprender a ler: uma revolução no cérebro. Entrevista conduzida por Mariana SGARIONI, para a revista Neuro Educação.
[2] Ideia baseada na observação que dá conta da activação de duas áreas do cérebro ligadas ao tratamento fonológico, durante a aprendizagem da leitura.
[3] José MORAIS, num estudo publicado em “A arte de Ler” [Edições Cosmos, Lisboa, 1997] com adultos analfabetos, dá conta de que estes não possuem consciência fonética.
[4] No português europeu dizemos que aprendeu de cor, que traduzimos do francês «aprendre par coeur», aprender pelo coração.
[5] Afinal, ensinar a ler só faz sentido com o sentido daquilo que se ensina a ler presente. Um sentido que a investigação de Stanislas DEHAENE, não contempla.