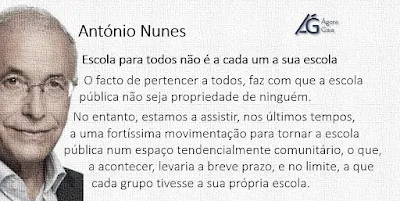Situamos Francisco Ferrer no seu tempo e recordamos que, nesse tempo, fazia-se ainda a distinção entre educação e instrução. Imaginamos então Ferrer como alguém à frente do seu tempo, a recusar o acto de instruir fora do acto maior de educar. Porque a escola que tem a ilusão de que apenas instrui e deixa a responsabilidade de educar nas mãos da “vida privada”, arrisca-se, sem disso se dar conta, a educar para a barbárie. E no entanto, escreve-se por aí, com tanta insistência, em tantos “sítios” dedicados à educação e ensino, que «a família deve educar para que a escola possa ensinar!». Talvez que esta insistência não seja mais que um desabafo de quem não vê reconhecido o seu trabalho e reivindica o apoio que não tem! Talvez! Mas mesmo assim não conseguimos evitar a provocação, numa pergunta: E se a família não educa, a escola desiste e não ensina?
A escola educa e ao educar instrui. A escola instrui e ao instruir educa. Mas para que possa educar ao instruir, precisa conhecer o sentido educativo da instrução que oferece. E aqui sobressai a importância de uma abordagem educativa por competências[2].
Podemos, por exemplo, ensinar história, passando apenas às crianças e jovens uma colecção de factos. Ao ensinar desta forma, conseguimos, talvez, pessoas instruídas! Mas só educamos se, no decurso do processo, as ajudarmos a ser melhores pessoas. Educamos, então, não em função de um futuro que não controlamos, depois de passado o tempo de vida na escola [porque não há como preparar alguém para vida que terá num futuro a 20 anos de distância], mas para o dia-a-dia vivido na sala de aula, na forma como convocamos a história [e outros saberes], na procura da compreensão do caminho que temos caminhado e dos caminhos que temos para caminhar. A ideia de uma “educação para a vida” não pode deixar de estar presente, obviamente. Mas se não conseguirmos, pela nossa acção, que as crianças e jovens que nos são confiados sejam boas pessoas hoje, não sei se o conseguirão ser no futuro! Daqui decorre «a proposta de que os conteúdos de ensino deveriam ser definidos em relação a práticas sociais cruciais para a vida dos cidadãos, mais do que num retomar de conhecimentos pré-definidos»[3].
Valores e atitudes não são conteúdos de um programa que se passem “de cátedra”, através de formas tradicionais de ensino: são competências sociais que decorrem dos modelos de organização educativa em que se inscrevem. Mas a “gramática da escola” [aquela da tradição, que separa a educação da instrução] não se cansa de nos empurrar para o trivial, o “palpável” [a colecção de factos referidos atrás] que, pela sua “clareza”, nos dispensa de pensar. Então, torna-se necessário um olhar moderno sobre as competências sociais, para que, ao procurar integrá-las no currículo escolar, estas possam ser aprendidas e mantidas por toda a vida e não, como tem acontecido até hoje, revividas apenas em discursos, num espaço de tempo curto, ao serviço exclusivo dos fetiches daqueles que não entendem muito, nem de competências, nem da sua avaliação.
Do conjunto de saberes que a escola oferece, Philippe Perrenoud fala dos saberes como recursos [recursos “internos”, nas suas palavras]: os saberes que, uma vez guardados, nos ajudam a viver; aqueles saberes «que o indivíduo tem dentro de si, que, de uma certa maneira, estão registados na memória, incluindo a “memória do corpo”»[4]. Saberes que orientam os nossos gestos, na relação que temos com o mundo, diríamos de um modo automático ou quase, que não precisam de grandes reflexões ou de serem reflectidos de todo, porque já foram reflectidos por nós, ou por interposta pessoa, no decurso do processo que os incorporou em nós. No entanto, sabemos, com Le Boterf, que «a competência não é um estado, e sim um processo»[5], e que a desactualização do saber que a sustenta faz parte, inevitavelmente, da sua natureza. Diz-se, então, a propósito, que as competências não são nem objectivos nem transversais: objectivos foram os conhecimentos adquiridos, desejavelmente transversais, que as sustentam.
[1] Ferrer Y Guàrdia. Escuela Moderna: páginas para la história, Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 1912: p. 22.
[3] Olivier Rey in Notas críticas ao livro de Philippe Perrenoud “A escola deve preparar para a vida” [LER MAIS>>>].
[4] Philippe Perrenoud. “Desenvolver competências ou ensinar Saberes? A escola que prepara para a vida”. Porto Alegre, Penso Editora Lda, 2013: p. 46.
[5] Le Boterf, G. De la compétence: essai sur un attracteur étrange. Paris, Les Éditions d’organisation, 1994: p. 17.
[6] Por exemplo, revisitar e desconstruir saberes que induzem certos tipos de comportamento, alguns saídos de uma certa cultura tradicional popular: “Olho por olho, dente por dente”, “Só quem é duro se dá ao respeito”, …