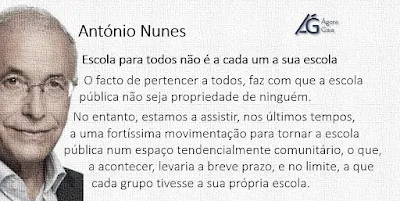Daniel LousadaQuando vem à conversa o excesso de burocracia nas escolas, vem por arrasto, muitas vezes, a falta de autonomia dos seus Agrupamentos! Mas não vejo como seja possível esta ligação. Estes, tirando até ver o poder de contratar professores, por sua conta [e risco *], em tudo mais têm tido toda a autonomia do mundo!
Pelo que me é dado perceber, na comunicação do Ministério da Educação com as Direcções dos Agrupamentos, deve passar-se algo assim: As regras são estas..., mas como não há regra sem excepção, escolham as excepções que entenderem, para reforço da vossa autonomia! Burocrática, já se vê.
Veja-se, a título de exemplo, o 1º Ciclo obrigado a adoptar um horário por disciplinas, com o respectivo "livro de sumários" dos outros graus de ensino! Com uma medida aparentemente inofensiva, a pretexto da "coerência do sistema", da sua "uniformidade administrativa", leva-se os professores deste nível de ensino, a pegar num currículo que aposta na interdisciplinaridade e a parti-lo às fatias. Assiste-se, então, a algo, no mínimo caricato: o Ministério da Educação com medidas de flexibilização do currículo, com as quais pretende, supostamente, facilitar a organização de projectos interdisciplinares nos 2º e 3º ciclos; e os Agrupamentos de Escolas, com toda a sua “autonomia”, a levarem o 1º Ciclo [onde, por força do seu regime de monodocência, a interdisciplinaridade é vista como natural], a caminhar no sentido contrário, num processo incompreensível de “balcanização do currículo” [veja-se caixa "Não dei a aula em chinês"]. Desenganem-se, portanto, aqueles que pensam que a burocracia que mais "magoa", vem do Ministério da Educação!
Philippe Meirieu e Abedennour Bidar «defendem que a liberdade pedagógica e a coerência dos sistema é essencial, mas a coerência do sistema não pode continuar a sobrepor-se à liberdade pedagógica», apelando no sentido de que «os professores sejam considerados como actores e autores responsáveis e não como meros executantes de processos estandardizados».** Como diz António Nóvoa, «o controlo regimental da vida das pessoas e das instituições, sempre em nome da flexibilidade e da simplificação, é a obscenidade maior das sociedades contemporâneas***. A burocracia quando não é colocada ao serviço das pessoas [dos alunos e seus professores, neste caso] é apenas instrumento de manifestação de poder. E é de pequenos gestos burocráticos, que os pequenos poderes, com uma falta de cultura pedagógica que até dói, se afirmam!O que mais massacra é o tempo gasto à volta do documento inútil, criado pelos agrupamentos, que não têm outro objectivo que não seja o de controlo administrativo. Como Refere Ph. Perrenoud, «perguntar-se a cada dia "para que serve?" é bem mais cansativo do que trabalhar duas horas a mais, dominando o que se faz, e sabendo que isso é útil e ao mesmo tempo reconhecido».****
Precisamos urgentemente de parar, e de inventar o dia de greve à burocracia para, longe dela, descobrirmos o que dela nos faz falta. Precisamos de professores(as) corajosos(as), capazes de confrontar os pequenos poderes, que não sabem fazer mais do que sabotar o seu trabalho; precisamos de virar os holofotes para a sua incompetência, no espaço público, se necessário.
__________________
* "Risco" surge aqui entre parêntesis porque, a manter-se a "tradição", não haverá risco algum: apenas poder discricionário sem controlo.
** Citados por Luís Goucha, "Crescer em humanidade. Quando o pedagogo se encontra com o filósofo: notas de uma entrevista" [LER MAIS>>>]
*** António Nóvoa. "Padagogia: a terceira margem do rio", p. 39 [LER MAIS>>>]
**** Philippe Perrenoud, Escola de A a Z, Artmed, Porto Alegre, pp. 41-43