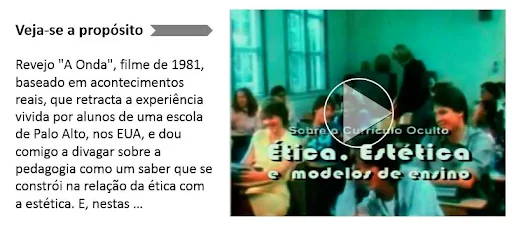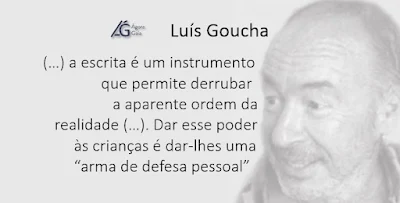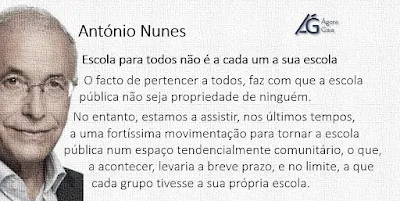Percorro "A pedra e o desenho" de Gonçalo M. Tavares,[1] com desenhos de Julião Sarmento, e detenho-me ao ler: "Toda a escrita tem a forma de vestígio; todo o vestígio a forma da escrita". Na continuação do percurso, umas páginas à frente, detenho-me novamente ao encontrar-me com "Todas as letras deixam vestígios atrás. Ler é estar atento aos vestígios, não às letras". Fixo-me nesta última expressão: "Ler é estar atento aos vestígios, não às letras". Releio-a... Horas antes tinha-me encontrado, no "Le Figaro", com o artigo de Caroline Beye, apresentado com a pergunta “Pourquoi les méthodes inefficaces dominent à l'école?”[2], uma espécie de manifesto a favor do regresso dos métodos fónicos à escola [da qual nunca saíram], dando voz ao movimento neste sentido liderado pelos cientista do cérebro. E fico perplexo! Como se os métodos fónicos [atentos às letras], nas suas múltiplas variantes, não tivessem liderado o processo de iniciação à leitura, pelo menos até à entrada dos anos setenta [se é que não lideram ainda], com o resultado que se viu.
Frank Smith, na introdução ao seu livro “Aprendizagem significativa”, dizia que se fosse responsável por ensinar a ler um grupo de crianças precisaria apenas de: 1- saber muito de leitura e escrita, do seu processo de construção, como é vista pelas crianças; 2- e saber muito sobre as crianças que teria frente a si, se sabiam já distinguir os sinais convencionais de escrita de quaisquer outros sinais, o que é que elas conheciam desse objecto chamado escrita [3]. Porque, sejamos claros, nenhuma criança precisa de um adulto à frente para começar a aprender a ler. São essas aprendizagens que a criança fez “sem autorização” que é importantíssimo (re)conhecer no decurso do processo. Ora, nesta perspectiva, o método didáctico, tal como o conhecemos, atrapalha mais do que ajuda. Porque as crianças não querem saber do método escolhido, elas querem apenas saber; compete então ao adulto ajudá-las a dar sentido às letras a partir dos "vestígios" que mereceram a sua atenção, para que além de quererem saber elas queiram também aprender [4].
“Ler é estar atento aos vestígios, não às letras”. Foi certamente no encontro com estes vestígios que Alberto Manguel aprendeu a ler: "Descobri que sabia ler aos quatro anos. Já tinha visto vezes sem conta as letras que sabia [porque mo tinham dito] serem os nomes [os vestígios] das imagens debaixo das quais se encontram. (...) Mas havia mais: eu sabia que aquelas formas não só reflectiam o menino por cima delas, mas também diziam o que o menino estava a fazer"[5].
Certos "cientistas do cérebro" confundem o ensino da leitura com a prática de rituais impressos nas cartilhas que condenam. Nada sabem de ensino da leitura de facto! Pelas suas investigações, assentes na observação do funcionamento do cérebro, elegem as consciências fonética e fonológica como determinantes na aprendizagem da leitura e, vai daí, apontam um método a partir desta eleição! Mas nada dizem sobre a forma como as crianças acedem àquelas consciências fonológica e fonética. E esquecem que os resultados de uma investigação não fazem uma pedagogia. Se o fizessem teríamos uma pedagogia científica [não seria pedagogia, portanto] e a educação seria uma ciência [6].
Se uma criança a soletrar palavras, envolvida no trabalho de associação de fonemas com os respectivos grafemas, faz "disparar o fogo de artifício" que "ilumina" uma determinada zona do cérebro, quando muito poder-se-á concluir pela importância dos sons da fala, no processo de aprendizagem da leitura. Não é de todo legitimo retirar da observação deste "espectáculo" a superioridade dos métodos fónicos sobre todos os outros. Até porque nenhum método descarta a importância da consciência fonológica; têm é formas diferentes de chegar a ela e desenvolvê-la.
"Não existe uma ligação directa entre o que os investigadores fazem e o que é feito na sala de aula" – afirma Edouard Gentaz –. "A investigação é necessária. Mas não se pode retirar receitas sem uma análise crítica do contexto"[7]. Emília Ferreiro, por sua vez, alertava os professores para não fazerem um método didáctico a partir da investigação que realizou na década de setenta, na área da psicolinguistica. Porque as conclusões da ciência não servem para ser transformadas num método, mas para ajudar a tomar decisões. Decisões pedagógicas, não científicas.
Desde que me conheço, como professor, que nos interrogamos sobre o melhor método de ensino da leitura e da escrita. Chega de perguntar por ele! Esse método [didáctico] não existe! O que existe são informações, ideias, sobre o modo como as crianças aprendem. O que temos é um objecto [a escrita] ao qual queremos que as nossas crianças acedam.“Todas as letras deixam vestígios atrás. Ler é estar atento aos vestígios, não às letras". Então vamos trazer a escrita para a escola, não as letras, e descobrir com ela [a escrita] onde nos levam as letras. Porque ninguém aprende sobre um objecto se não lhe for dado manipulá-lo, para ver de que é feito.
____________________